|

Pádua Fernandes
concedida a Alexandre Nodari
Para que servem os direitos humanos?
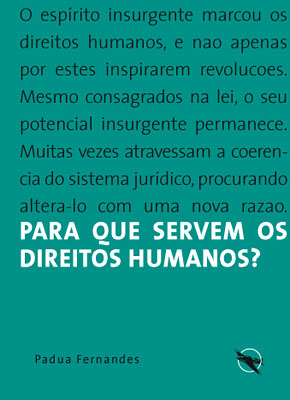
Em Para que servem os direitos humanos?, o jurista e poeta Pádua Fernandes (responsável pelo blog O palco e o mundo) expõe uma visão dialética dos “direitos humanos”, situando-os no embate entre “Direito e resistência”. Publicado em 2009, pela editora portuguesa Angelus Novus, o livro tem uma estrutura que reflete tal dialética, iniciando-se por um elogio à insurgência – "Um Direito contra o Direito?" –, a que se segue uma defesa de sua institucionalização – "Direitos a favor de que Direito?" -, e se encerrando com uma reflexão sobre a difícil, mas necessária, segundo o autor, tarefa de sua universalização. Se é certo que, como reza o bordão esquerdista, “Só a luta faz a lei”, também é verdadeiro que a conversão pura e simples do Direito em política (o plebiscitarismo, digamos), sem levar em conta o passado e as mediações dos meios de comunicação, pode ter como resultado a anomia – basta lembrar que se houvesse um plebiscito sobre a pena de morte hoje, a sociedade brasileira provavelmente se manifestaria pela sua adoção (mesmo que a vedação da pena de morte seja uma cláusula pétrea constitucional, este é um dado que não pode ser ignorado por qualquer jurista). A entrevista que se segue com Pádua Fernandes é uma tentativa de elucidar esta concepção dialética dos “direitos humanos”, bem como questionar se ela não levaria a uma estratégia paradoxal.
SOPRO No livro, você argumenta que, muitas vezes, a efetividade dos direitos humanos depende de uma ação ou interpretação contra legem. Por outro lado, você alerta para uma “forma legal de produção da ilegalidade”, no sentido de que é possível violar, pela lei, os direitos humanos. Ou seja, por um lado, você aponta que os direitos humanos ultrapassam o direito positivo e, por outro, lança mão deste mesmo direito positivo em defesa deles. Isto não seria uma estratégia paradoxal? Como conciliar o legalismo e a defesa dos direitos humanos, se estes muitas vezes precisam quebrar o critério de “legalidade” para que se efetivem? Por que você opta por falar em “forma legal de produção da ilegalidade” e não “forma legal de produção da injustiça”? A legalidade, a lei, seria paradoxal e/ou ambígua em sua essência – se é que há algo como uma essência da lei?
Pádua Fernandes Claro que é paradoxal, foi exatamente o que escrevi – e esse paradoxo faz parte da vida cotidiana do direito. Para entendê-lo, deve-se lembrar do fato é o que direito não se resume à lei (mesmo nas sociedades onde haja um fetiche pela lei escrita, ela nunca consegue esgotar as fontes do direito – Aristóteles, que viveu muito antes do positivismo jurídico, já alertava a respeito), nem mesmo o que se chama usualmente de direito positivo se resume a tão pouco. Como qualquer autor sério lembrará, inclusive Hans Kelsen, há direito positivo não escrito; esse jurista austríaco, um dos papas do positivismo jurídico do século XX, bem percebeu que o direito consuetudinário (que também é positivo) poderia modificar até mesmo o direito constitucional escrito. Podemos lembrar da noção de certos constitucionalistas dos EUA de que a constituição só muda (por emenda formal aprovada no Congresso e nos Estados federados) quando já mudou (na prática). Dessa forma, o direito também não se resume ao Estado – no direito privado (em geral, mas a dinâmica do direito comercial torna isso bem claro) e no direito do trabalho é muito fácil vê-lo.
O direito tem várias fontes. Nada escrevi sobre a “essência” dele e imagino que não o farei. O que posso dizer é que não há direito sem disputa pelo seu sentido; ele nunca é simplesmente dado, ele é sempre construído, como a própria sociedade que o gera. E, como é sempre uma construção social, obviamente ele não possui apenas uma fonte – a sociedade possui diversos atores – e o Estado não é capaz de monopolizá-lo, mesmo quando assim o deseja. Ele não é criado apenas de cima para baixo, e sim também de baixo para cima. O Judiciário também não é capaz de fazê-lo, apesar das cegueiras militantes de um certo realismo jurídico que aposta que o direito é o que dizem os juízes – se eles se voltam contra a sociedade, substituindo o mundo pelos autos, pode acontecer simplesmente de suas decisões perderem qualquer esperança de eficácia... Ademais, mesmo quando se podem identificar doutrinas jurídicas predominantes, há contradoutrinas que, a qualquer momento, podem prevalecer. Os advogados fazem isso o tempo todo, buscando os interesses de seus clientes. Os advogados públicos também. E o Judiciário não é nada homogêneo.
Há, pois, um debate no direito que deve ser amplo, já que as leis interessam aos cidadãos. Os clássicos sabiam dessas múltiplas casas e fontes do direito. Lembre-se das origens da propriedade segundo Locke, da impressionante intuição antropológica avant la lettre de Montesquieu, e de Rousseau. Rousseau pôde dizer, cito agora os Fragmentos políticos, que “O único estudo que convém um bom Povo é o de suas leis.” Não apenas para observá-las, mas também para corrigi-las, ele escreveu. Ao contrário das noções aristocráticas de um Pontes de Miranda, esse trabalho de criação e mudança das leis é da comunidade e de seus representantes, não deve ser o monopólio de juristas. Pois criar direito é uma atividade política.
Como as pessoas que não trabalham com o direito não têm, normalmente, ideia desses aspectos comezinhos do cotidiano do trabalho jurídico, e há esse clichê de que lei seria igual a direito que seria igual a Estado (clichê reforçado até por pessoas que não exatamente leigas, como certos desembargadores e professores de direito, às vezes até de esquerda), dou um breve exemplo aqui.
Quando trabalhei na Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, passou por mim um processo relativo a certo espólio de um senhor que havia comprado terreno no que hoje é a Favela Santa Marta, no morro Dona Marta (a Favela é santa e o morro é dona). Ele comprou o terreno, formalmente, mas não fez dele uso – e ele começou a ser ocupado por diversos trabalhadores pobres que trabalhavam nas redondezas – essa favela é vizinha de Botafogo. Lembro que é peculiar ao Rio de Janeiro essa configuração de que há comunidades desse tipo mesmo em áreas consideradas “nobres”. Pois bem: ele conseguiu citar toda aquela gente (o que era o mais difícil) e ganhar o processo (o que era fácil, visto que os ocupantes não possuíam nenhum título formal). Encerrou-se o processo de conhecimento. Fez-se coisa julgada. Dever-se-ia passar para a execução da sentença, desalojando todas aquelas pessoas que haviam se apossado do morro.
No entanto, a favela não esperou os trâmites do processo e continuou a desenvolver-se. No momento de executar a sentença, simplesmente havia muito mais gente – como desalojar esses moradores? Ele, e depois o espólio, tiveram a ideia, que considero astuciosa, de solicitar à prefeitura que resolvesse aquele “problema social” – na verdade, queriam que o poder público desapropriasse a área, de forma que ainda pudessem ganhar algo com um imóvel que, na realidade, nunca foi de ninguém exceto os seus ocupantes. A prefeitura, que nem havia sido citada no processo, corretamente fez-se de morta. Meio século depois, a sentença ainda não foi executada – para a tristeza daqueles que acham que o direito é apenas aquilo que dizem os tribunais, para a infelicidade dos que pensam que o direito se resume ao código civil – simplesmente devido à efetividade da produção social do direito. Os moradores construíram seu direito a partir da prática, da ocupação, de baixo para cima. Com Boaventura de Sousa Santos, podemos ver nesse caso um exemplo de pluralismo jurídico.
Nesse caso, os moradores criaram seu direito (de posse) contra um direito formal de propriedade. Hoje, quando, por exemplo, os movimentos de moradia ocupam imóveis vazios, que não estão cumprindo sua função social, eles buscam a efetividade do direito à moradia quebrando o formalismo do direito de propriedade. Trata-se de uma estratégia, que é paradoxal, de sair do direito para fazer valê-lo, como expliquei em “O pluralismo paradoxal e os movimentos sociais: democracia participativa e o Estatuto da Cidade”, palestra que dei na I Jornada em Defesa da Moradia Digna em São Paulo.
Quando os direitos humanos quebram o formalismo das leis (no exemplo que dei das ações de liberdade), portanto, não estão agindo contra o direito, e sim afirmando uma nova concepção jurídica. Trata-se da construção de uma nova legalidade, no caso com referência a um direito constitucional – a retórica jurídica está sendo usada em favor dos direitos humanos.
Outro problema é a formulação que emprego no livro – por que não se referir a uma produção da injustiça? Por que “produção legal da ilegalidade”? Fizeram-me essa pergunta também na banca de mestrado, em 1996, e respondi da mesma forma como farei agora: quis mostrar que, mesmo nos simples parâmetros da legalidade, o direito positivo é violado quando acontece a produção legal da ilegalidade. Pode-se questionar essa má aplicação, claro, em nome de certas concepções de justiça (o que poderia gerar réplicas curiosas como a de que, como houve mais de uma teoria a justiça na história da humanidade, não seria possível escolher alguma para punir os torturadores da ditadura militar...) No entanto, não precisei invocar parâmetros do direito natural, ou do direito divino, ou qualquer norma transcendental ou transcendente para denunciar o problema: trata-se de má aplicação e interpretação do direito positivo, simplesmente isso.
Não fiz referência explícita à teoria da justiça porque o que chamei de produção legal da ilegalidade corresponde a casos clamorosos, de distorcer o direito a partir de uma cultura jurídica autoritária (que pode muito bem subsistir no âmbito de um regime formalmente democrático, com um ordenamento jurídico democrático). Há diversos casos desses, por exemplo, durante a ditadura militar no Brasil (que precisou manter um aparato formal jurídico que lhe tolheria as ações, se fosse realmente cumprido). Agora pesquiso os documentos reservados, secretos e confidenciais da época, o que proporciona acesso a casos que não chegaram aos tribunais. A jurisprudência da época – de qualquer época – é somente uma parcela da vida do direito.
Pode-se verificar que aqueles torturadores estavam realmente violando, além do Direito Internacional Humanitário aplicável ao Brasil, o direito interno da época, mesmo a legislação de exceção: nem o Ato Institucional número 5 permitiu a tortura, por isso era necessária a cumplicidade do Ministério Público, dos juízes, dos peritos, dos médicos legistas para que todas as denúncias fossem abafadas: simplesmente não se poderia admitir o fato dos assassinatos e sevícias e depois sustentar, legalmente, que não havia sido cometido nenhum ilícito penal. Pode-se condená-los em nome do direito positivo aplicável, e não diretamente de uma teoria da justiça a ser escolhida.
A partir dessa crítica da má aplicação do direito positivo, a ponto de distorcê-lo contra os seus próprios fins, que é o que chamei de produção legal da ilegalidade (lembro que praticamente todos os tratados internacionais de direitos humanos possuem artigos contra esse tipo de interpretação), pode-se, por exemplo, verificar como é péssima, em termos de hermenêutica jurídica e metodologia, a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro que afirmou que a lei de anistia aprovada na ditadura militar ainda é válida (em abril de 2010, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 153). Além da negação do direito à memória e à verdade, a decisão destruiu em seus fundamentos o incipiente constitucionalismo brasileiro, como escrevi no Sopro 30 [Nem justiça nem transição: a lei brasileira de Anistia e o Supremo Tribunal Federal], ao afirmar a prevalência, sobre a Constituição de 1988, de uma emenda à Constituição de 1967! Ficou claro que a transição para a democracia não foi completada, nem no Executivo (que, como Jorge Zaverucha mostrou, continua profundamente aparelhado pelos militares) nem no Judiciário – que foi o Poder onde não houve expurgo algum dos agentes comprometidos com a repressão. Não houve nenhum processo formal de expurgo desses agentes no Brasil, pois a transição foi tutelada pelos militares. Porém, nos poderes Executivo e Legislativo, pelo menos as eleições retiraram de cartaz alguns dos nomes comprometidos com o regime formalmente autoritário. Outros nomes confirmaram-se em eleições, como o clã Sarney, Maluf, o que mostra a continuidade da cultura autoritária e das relações de poder que os mantêm, e outros, talvez mais fortes ainda, permanecem na ribalta a despeito de já terem sido derrotados eleitoralmente, como o Delfim Neto, opaco personagem que a justiça brasileira não consegue nem mesmo citar.
De fato, em casos como esse, em que ministros do Supremo afirmam teses que os levariam à reprovação em direito constitucional I, se estivessem nos bancos escolares, vê-se que levar a sério o legalismo pode ser algo favorável aos direitos humanos! Afinal, o direito, apenas por ser formal, já cria limitações ao poder. Quando a ditadura militar violava os seus próprios decretos-lei e atos institucionais, estava a demonstrar isso. Lembro agora de Hannah Arendt, no Eichmann em Jerusalém, quando lembrou que Hitler disse que chegaria o dia em que, na Alemanha, seria uma desgraça ser jurista – “he was speaking with utter consistency of his dream of a perfect bureaucracy.” Esse reino da burocracia seria a vitória da gestão sobre a política, da polícia sobre a política (no sentido de Rancière), e da norma (em termos de Foucault) sobre o direito. Não acredito nessa vitória – mas, de qualquer forma, trabalho contra ela.
SOPRO Um desdobramento da pergunta anterior: qual o critério para decidir em caso de conflito entre legalidade e direitos humanos, ou em um conflito entre dois destes? Seria a hermenêutica? Mas esta não acabaria levando a uma nova legalidade tipológica de outro patamar – mesmo na forma da normatização de seu procedimento? No livro, você oscila entre dois critérios: a dignidade humana e a manutenção de uma esfera de ação política. Todavia, a necessidade de fazer esta escolha, de apontar um critério não é um sinal da limitação da estratégia de defender os valores que os direitos humanos representam dentro de uma esfera estritamente jurídica (ou seja, tipológica, hierárquica)? Neste sentido, lembro que José Saramago tem uma proposta interessante, ainda que altamente utópica (no sentido negativo do termo): a substituição de todos os programas de todos os partidos políticos pela Declaração dos Direitos Humanos da ONU. É uma forma de deslocar o problema da esfera da legalidade e do conflito normativo para a esfera programática e pragmática da política. Mas isto tem uma contrapartida problemática: até que ponto a defesa do Direito como uma construção político-social, em um contexto em que o peso da mediação dos meios de comunicação de massa tem um forte peso não só no conteúdo, mas também na forma do debate público, milita em favor dos direitos humanos? Em suma, gostaria que você expusesse os limites e potencialidades das duas perspectivas, bem como o modo de articulá-las, caso isto seja possível.
Pádua Fernandes É evidente que a curiosa proposta de Saramago é a de alguém que não possui a mínima ideia de como o direito é aplicado e criado e, mais grave ainda, esquece totalmente dos contextos antropológicos da política e do direito. É provável que essa profunda limitação do pensamento do romancista português leve a certos impasses formais em seus romances (que tentam, em geral, ter um fundo político), mas não vou me aprofundar nisso.
Sobre as duas perspectivas, não há possibilidade de dignidade humana sem a manutenção de uma esfera de ação política. Veja que não quis responder à questão do fundamento dessa dignidade, nem dos direitos humanos (uma resposta kantiana seria a de que se fundamentam mutuamente), muito menos do direito tout court. Questões muito além da minha curta vista, que a humanidade vem tentando responder há milênios. Meu problema era como, já que os direitos humanos hoje estão no plano do direito positivo, como eles podem ser eficazes? Como eles se relacionam com as outras normas jurídicas?
Você pergunta a respeito dos meios de comunicação a partir de uma crítica que se faz normalmente a Habermas: não temos usualmente situações comunicativas ideais, pelo que o debate público já é enviesado pelas situações de poder – ele também sabe disso. Você leu que fiz críticas a Habermas. Minha posição era a de que os direitos humanos, para serem efetivos, precisariam ampliar os espaços de ação (mas não apresentei nenhuma teoria da ação social, o que exigiria outro livro, que não sei se farei). Concepções de direitos humanos que restringissem esses espaços, como foi o caso da União Soviética, simplesmente acabariam por minar a eficácia daqueles direitos. Como escrevi, prever os direitos à moradia e à saúde é de pouca valia sem as liberdades fundamentais – sem elas, o Estado pode a qualquer momento retirar os direitos sociais (e até o direito à vida) sem que haja mecanismos de resistência e de denúncia. O resultado, em última escala, é o genocídio – e isso me faz entender porque Hannah Arendt minimizou, contudo exageradamente, a esfera do social.
Falei da extinta URSS, mas podemos lembrar dos EUA: a legislação eleitoral e de comunicações obviamente reafirma o poder das grandes corporações (a decisão da Suprema Corte sobre o financiamento eleitoral acabou com as ilusões de que aquele sistema possa ser caracterizado como democrático). O capitalismo sempre tende à plutocracia, e aquele país é o pesadelo plutocrático realizado nas suas últimas consequências: guerra e destruição ambiental (pois a destruição também é um negócio) no planeta. Acho que, mesmo do ponto de vista de um liberal como Rawls (visto por histéricos neoliberais como um “socialista”), o desequilíbrio chegou a um ponto em que a desigualdade comprometeu a liberdade. Como criar espaços de resistência naquele país? Não sei – cada sociedade deverá encontrar sua resposta, a partir de sua imaginação política. Mas os direitos humanos podem ser articulados com a ação política na medida em que essa própria ação pode ser reivindicada como um direito, insurgente, e esse direito legitima os espaços criados em seu nome.
SOPRO Em certa altura do livro, você menciona a interpretação equivocada do “direito à hospitalidade” por Jacques Derrida e Hannah Arendt. No Direito das Gentes romano, quem tinha tal direito era o Império, os magistrados do Império – todos tinham o dever de recebê-los. Kant, como você argumenta, conclui que uma das causas da guerra e do colonialismo é justamente tal direito à hospitalidade (e, de fato, na tomada de terras do Novo Mundo pelas potências europeias, um dos argumentos jurídicos era o de que os povos indígenas deviam hospitalidade a elas). Será que não existe um resquício desta ideologia de superioridade nas invasões humanitárias ou anti-terroristas de hoje? Dito de outro modo: os EUA não sentem que o Afeganistão ou o Iraque têm o dever de serem “hospitaleiros”?
Pádua Fernandes O professor Ricardo Terra chamou-me a atenção para o problema, a partir de interpretação que Mario Caimi dá ao terceiro artigo definitivo de À paz perpétua de Kant. Trata-se de limitar esse direito, senão poderá haver o colonialismo e novas guerras. Derrida e Hannah Arendt não perceberam o sentido dessa passagem porque não o relacionaram com a infame história do direito internacional, assunto fora de suas especialidades – mas não das de Kant, que teve que lecionar, entre outras mil disciplinas, direito, e conhecia o pensamento dos internacionalistas da época, que ele chamava de “tristes consoladores”.
Na verdade, a hospitalidade, segundo Kant, encontra limitação no direito de visita; veja-se o parágrafo 62 da Doutrina do Direito (parte da Metafísica dos Costumes). Nessa passagem, Kant considera que só há o direito de apossar-se e fazer assentamentos em terras desabitadas – com a brilhante ressalva de que certos povos, por sua forma de viver e produzir (como a maior parte dos índios americanos, lembrou o filósofo) precisam de largas áreas que não ocupam diretamente, e isso não pode ser pretexto para que os europeus as tomem. Se Kant, que nunca saiu da Prússia, via isso no final do século XVIII, por que certas pessoas no Brasil de hoje teriam dificuldade de entender isso na questão de demarcação de terras indígenas?
Veja também que Kant, em À paz perpétua, considerou correta a decisão do Japão e da China de fecharem seus portos ao comércio com os europeus. Embora ele fosse um pensador do cosmopolitismo, sabia que a criação de uma sociedade cosmopolita seria difícil (a última tarefa da humanidade, que talvez não fosse alcançada) e que há condições empíricas adversas. Mesmo antes da selvageria imperialista do século XIX, ele viu que a dinâmica do colonialismo europeu trouxe “guerras mais extensas, o flagelo da fome, rebeliões, deslealdade” e ainda mais males contra a humanidade. Afinal, o século XVI já havia trazido o genocídio para os povos americanos – e ele mesmo comentou que os europeus eram mais selvagens do que os antropófagos.
Perto disso, como escrevi no livro, as tentativas cosmopolitas de Rawls (o pensador do “povo islâmico decente”) e Habermas (que não deseja nenhum país do sul na ampliação do Conselho de Segurança da ONU) são imperdoavelmente etnocêntricas. Também argumentei que as “máximas sofísticas”, na expressão de Kant, que as potências usam para encobrir seus propósitos de dominações podiam ser verificadas na invasão do Iraque pelos EUA. Lembro que colegas de direita torceram o nariz para isso. Certos documentos que Wikileaks fez aflorar mostraram que eu, e mais os milhões que não acreditaram na encenação internacional do último Bush e de Colin Powell, estávamos certos.
O antropólogo do direito Norbert Rouland afirma que, em casos como esses, os direitos humanos são usados como cavalo de Troia, isto é, como mero pretexto para a dominação. Nada mais certo – e, assim, estão sendo usados de forma abusiva, contra sua própria finalidade. O Iraque, por exemplo, ainda não voltou a ser um Estado soberano, seu governo ainda é meramente o permitido pela potência ocupante.
SOPRO Por fim, uma pergunta que não posso não fazer. Como você vê o entrelaçamento entre direitos humanos e biopolítica traçada por Giorgio Agamben (que neste ponto segue Foucault, para quem os direitos e as disciplinas nascem, na Modernidade, ao mesmo tempo)? De certo modo, a cisão que ele demonstra haver no interior do conceito de vida está inscrita em nossa legislação: a Constituição Federal, por exemplo, adota no art. 7º, inciso IV, um conceito de vida digna, na medida em que dispõe que o salário mínimo deve atender às “necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”; todavia, o instituto penal do “estado de necessidade” pode ser invocado apenas no caso de risco de morte, ou seja, adota como conceito de vida a “mera vida”, a “sobrevivência” – alguém que recebesse menos que o salário mínimo constitucional (calculado pelo DIESE, e de valor muito superior ao salário mínimo real), não poderia roubar e invocar o “estado de necessidade”, ainda que a dignidade de sua vida esteja sendo afrontada. Agamben argumenta que a “dignidade” é um título (no sentido em que ainda se usa o termo quando do recebimento de prêmios, comendas, etc.), que cria esta cisão e possibilita escolher entre a vida que merece ser vivida e a que não merece. Como invocar os direitos humanos – embasados na noção de dignidade - sem ter de fazer esta escolha, sem reproduzir esta cisão?
Pádua Fernandes Creio que conceber a dignidade como meramente um título é ainda estar preso a uma visão do direito que só pensa o jurídico de cima para baixo, o que é uma abordagem muito reducionista do direito e da sociedade (remeto, pois, à minha primeira resposta). Talvez haja um défice sociológico em Agamben. Parece-me que essa perspectiva nasce de uma deficiência do pensamento de Foucault no campo da teoria do direito, que o pensador francês tentou superar, nos seus últimos anos de vida, com a interessante tentativa de fundamentar os direitos humanos e a “cidadania internacional” contra os abusos do poder, para usar a expressão do pensador francês, que chega a dizer que “A infelicidade dos homens não deve jamais ser um resto mudo da política. Ela fundamenta um direito absoluto de se erguer e se dirigir àqueles que detêm o poder.” (“Face aux gouvernements, les droits de l’homme”, tradução minha).
Em Foucault, a própria noção de biopolítica é ambígua (houvera vivido mais, novas formulações teria encontrado – ele nunca foi um pensador que se atrelasse a um sistema ou a uma doutrina fixa) e deu origem a leituras favoráveis à desregulamentação dos direitos sociais e contra o direito estatal, justamente por causa de previsões como as que você cita da constituição brasileira. Trata-se de abordagens teóricas que, embora partindo de pensadores que se consideram de esquerda, convergem, em seus resultados, às posições neoliberais que negam os direitos sociais (que dizem respeito justamente às condições de vida). Dessa forma, essas leituras pretensamente radicais encontram-se com os desejos do Capital de desregulamentação e contribuem para a reprodução cada vez mais barata da força de trabalho...
Nesse ponto, estou com Rancière que, em vez de ver esse impasse, busca formas de resistência:
 |
[...] muitas pessoas que leem Foucault extraem dele a ideia de que todas as formas de proteção social são formas do poder novo que se exerce sobre a vida. Não acredito que isso seja verdadeiro. Há sempre uma escolha sobre a maneira de pensar essas formas e fazer delas uso. Outros dizem que a vida está inteiramente submetida à televisão ou à internet. Porém, verificamos continuamente que, com a internet, podemos seja nos submeter à ideologia dominante, seja criar novas formas de discurso ou de discussão. Contesto, então, esse discurso recorrente que nos diz que a vida está inteiramente submissa e saturada. Penso que há algo de muito nocivo na ideia de biopolítica quando se diz que a vida é inteiramente governada, que nossa carne e nosso sangue são governados pela lei do poder. (Et tant pis pour les gens fatigués. Paris: Éditions Amsterdam, 2009, p. 657-658, tradução minha)
|
Trata-se, enfim, novamente do problema da imaginação política – e o direito deve dar instrumentos para que ele possa se manifestar, com os espaços de ação. Penso que essa é a necessidade do direito, mesmo em movimentos insurgentes. A evocação dos direitos humanos nas revoltas atuais no Oriente Médio parecem-me confirmar essa tese – esses direitos podem servir de faísca para os incêndios que a imaginação política pode, deve suscitar.
|

