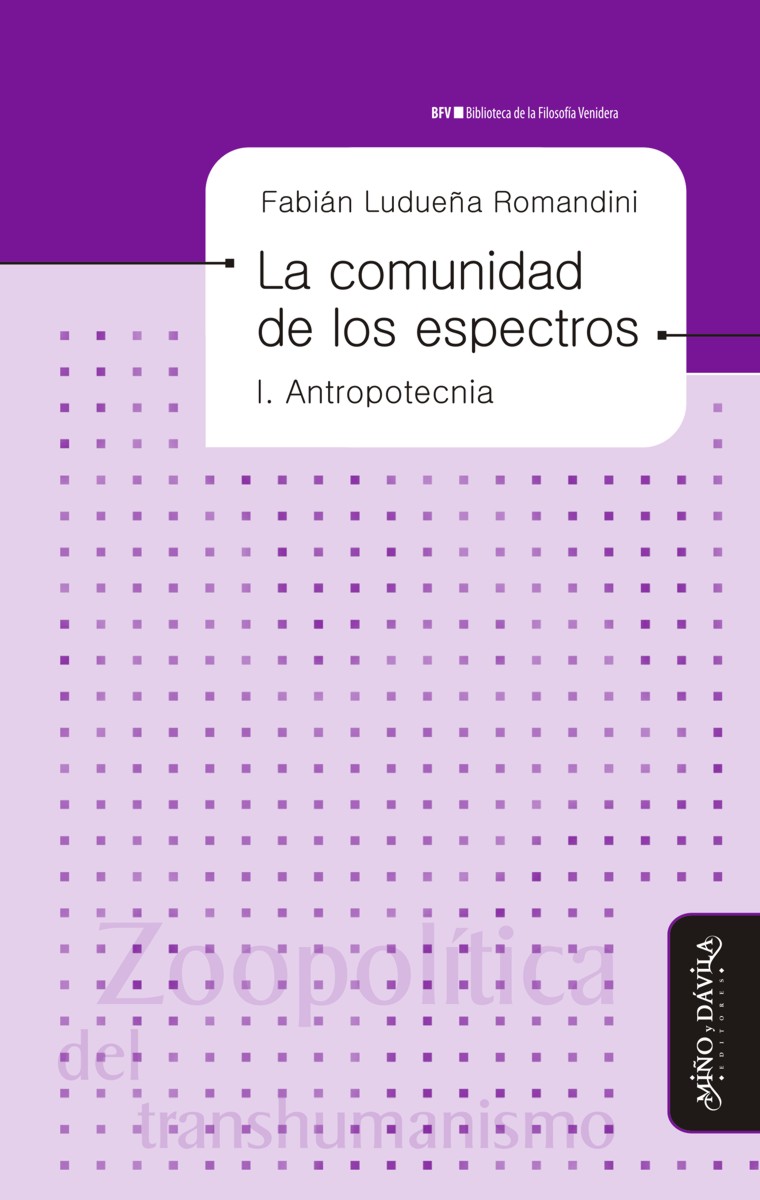
La comunidad
de los espectros.
I. Antropotecnia

de Fabián J. Ludueña Romandini

Buenos Aires,
Mino y D’Avila editores, 2010
|

Fabricar o humano
por Alexandre Nodari
As citações do livro foram traduzidos pelo resenhista, e estão
seguidas da indicação do número de página, entre parênteses. A editora Cultura e Barbárie prepara uma tradução do livro, a ser lançada em 2012.
Desde que Giorgio Agamben publicou o primeiro volume da tetralogia Homo sacer (em 1995, um ano depois da publicação de Biopolitics, de Agnes Heller e Ferenc Fehér), este instituto do direito arcaico romano tem sido invocado à exaustão por acadêmicos como modelo de análise nas mais diversas áreas das humanidades, servindo para explicar fenômenos díspares no tempo e no espaço. É o próprio paradigma da sacralização da vida proposto por Agamben que é questionado no primeiro volume (intitulado Antropotecnia) da série La comunidad de los espectros, do filósofo argentino Fabián Ludueña Romandini (que teve, recentemente, outro livro, Homo oeconomicus resenhado no SOPRO [n. 43]). Seguindo a esteira de Jacques Derrida, que, em seu seminário sobre A besta e o soberano, questionou a distinção proposta por Agamben entre bíos e zoé (como já fizera antes com a distinção entre “inimigo privado” – inimicus – e “inimigo público” – hostis –, basilar da concepção política de Carl Schmitt), Ludueña opta por, ao invés de “biopolítica”, “utilizar o termo (...) ‘zoo-política’ para designar a substância primordial da política humana” (30). Zoopolítica, e não biopolítica, porque não se trataria de capturar o fora não-humano, a zoé, excluindo-a nessa captura, mas de produzir o homem através da administração da animalidade: “a política se deu como tarefa suprema, desde seus inícios, a arte da domesticação do animal humano” (21). Já em Platão, nota Ludueña, “Todo poder soberano é, originariamente, poder sobre a vida, e todo exercício de tal poder coincide, necessariamente, com a administração do vivente” (19), ou seja, as distinções entre público (pólis) e privado (oikos), e entre “vida qualificada” (bíos) e “mera vida” (zoé) intentadas por Aristóteles não são fundadoras ou descritivas, mas tentativas de respostas (frágeis, argumenta o autor) à eugenia platônica: “Não é possível, portanto, isolar algo como duas dimensões da vida dado que a política no é um suplemento de vida – agora chamado bíos – que se agregaria a posteriori a um substrato constituído por uma zoé como sustenta Agamben. Ao contrário, a afirmação aristotélica é muito mais inquietante e carregada de conseqüências: se não há uma verdadeira distinção categorial entre zoé e bíos, então a política é, em Aristóteles, desde seus próprios primórdios, uma política da vida” (30). Assim, caberia ao governante criar, selecionar e gerir seu rebanho – em sentido estrito: “a regulação biológica da população” (77). A relação intrínseca, ou melhor, a co-constitutividade entre a eugenia e a política move o filósofo argentino a sugerir como paradigma da zoopolítica o ius exponiendi em lugar do homo sacer. O instituto jurídico da exposição, presente na Grécia e Roma antigas, é aquele pelo qual um filho pode ser rejeitado ou abandonado – por deficiências fisiológicas ou anatômicas, por motivos sócio-econômicos, etc. –, permitindo, desse modo, uma seleção eugênica da população, a decisão sobre que vida vale ser vivida, e o que é o humano. O modelo da exposição comparece pelo nome até ao menos o final do século XIX e início do XX, quando ainda havia as chamadas rodas dos expostos (ou dos enjeitados), mas também – como argumenta Ludueña – persiste até os dias atuais, sob a roupagem contemporânea de tecnologias como a terapia e a seleção gênicas, nas quais, poderíamos dizer, a eugenia atinge o plano da virtualidade e é possível imaginar a exposição de filhos apenas possíveis.
É sob a ótica da zoopolítica eugênica dedicada a “fabricar o humano” através da sua seleção que Ludueña lerá as utopias que brotam a partir do renascimento: “toda utopia é para a ciência do governo o que o Panóptico de Bentham é para a sociedade disciplinar: um paradigma do exercício de uma nova modalidade de poder destinada a se estender para todos os resquícios de uma comunidade futura” (86). Mesmo que em uma leitura detida (um close reading por assim dizer), as utopias modernas possam conter elementos de programação e seleção do que seria o humano, não se pode perder de vista o impulso primordial que as move (ou mesmo a sua condição de possibilidade): a “descoberta” do Novo mundo. O (velho) Novo homem americano revelou ao europeu a possibilidade de outras formas de organização político-social, o caráter contingente das formas existentes – e é isso, mais do que um exercício fictício de zoopolítica ou um pertencimento ao gênero da ficção científica (como quer Frederic Jameson) que as utopias exprimem. Nesse sentido, talvez o avatar moderno da zoopolítica eugênica deva ser buscado na ciência (ou filosofia) política em sentido estrito. De fato, no primeiro capítulo do último dos Seis livros sobre a república, Jean Bodin, responsável pelo conceito moderno da soberania, se dedica a Censure – tanto à censura quanto ao censo. Para Bodin, o censo – a contagem dos bens e da população; a redistribuição desta, de acordo com cálculos governamentais, em classes; o registro dos nascimentos e das mortes, etc. – permitiria uma melhor organização da república, facilitando a detecção e correção de elementos improdutivos (os vagabundos) pelo censor. Ou seja, no coração mesmo da definição moderna do Estado aparecem associados a ele, em estado nascente, aquelas técnicas que definirão a biopolítica em sentido amplo para Michel Foucault (que parece oscilar entre dos conceitos: um mais estrito, em que a biopolítica seguiria à sociedade disciplinar, e aquele, que adotamos aqui, que a engloba). Que as bases de tais tecnologias sejam um instituto e uma magistratura recuperados da Roma antiga (o census e o Censor) reforça a tese de Ludueña do caráter eminentemente zoopolítico da política ocidental. A antropotecnia, pode-se dizer, exige separar a vida de sua intensidade (força), para poder medi-la e calculá-la (forma), mas, para tanto, é preciso (tomar) uma medida, o que é o mesmo que criar uma medida: eis a zoopolítica e o que a torna possível é, por um lado, a estatística, o censo, e, por outro, as práticas que tem a exposição como paradigma.
Todavia, o cerne do livro, como indica o título da série de que ele faz parte, não é essa vertente da zoopolítica, mas uma mais recente, inventada pelo messianismo cristão, que tem em comum com a platônica o objetivo de produzir a antropotecnia. Com Jesus, com a morte e ressurreição do Messias, dois problemas políticos interligados se colocam na ordem do dia para o Ocidente: o de sua sobrevivência espectral (o problema das imagens); e o de sua vida post-mortem. Quanto ao segundo, Ludueña sugere que se tome toda a discussão sobre o corpo e a natureza dos ressuscitados (os que habitam o Reino dos Céus após essa vida) como um debate zoopolítico, um debate acerca do que é verdadeiramente humano: “O primeiro ressuscitado do cristianismo é o próprio Messias, cujo corpo ressurgido da morte constitui o paradigma supremo e a razão eficiente de toda a dogmática posterior constituída em torno da imortalidade e do reino dos justos” (166). Ao conceber uma vida extra-terrena dos ressurretos, o cristianismo precisa aclarar o sentido de tal “corpo glorioso”, de tal “vida imortal”. As duas tendências que se envolveram nesta discussão, nessa “luta antropotécnica” – a “ortodoxa favorável à ressurreição corporal” e a “gnóstica (...), que sustenta, ao contrário, uma sobrevivência incorporal” teriam “um “objetivo comum: a abolição da animalitas própria do homem”. Assim, seja na forma de uma vida incorpórea, seja na forma da ressurreição da carne, de uma carne cujas funções biológicas foram desativadas, o cristianismo pensa o homem “verdadeiro”, justo, a imortalidade como “a eliminação da animalidade primordial” – o que inclui a eliminação dos animais não-humanos, que, para Tomás de Aquino, não teriam lugar no Reino dos Céus: “Em outros termos, a teologia nos ensina que um reino em que impere absolutamente o homem realizado na plenitude de suas potências só pode ser um deserto onde a biodiversidade tenha sido completamente aniquilada. A expansão do homem só pode significar a extinção de todas as espécies restantes que povoam o planeta. Não parece necessário aclarar como esse disideratum teológico-político se transformou em uma autêntica e devastadora vontade de poder secularizada que guia boa parte das atuais políticas ambientais das pós-democracias capitalistas e humanistas em escala planetária” (188).
Em afirmações como essa, nos deparamos com uma das maiores dificuldades (ou melhor, um dos pontos em branco, ainda por preencher) da argumentação do livro. Trata-se, evidentemente, de um problema metodológico: se parece haver um nexo entre o afã cristão-messiânico de criar um homem não-animal e os avatares do humanismo moderno e seu desejo de conceber e produzir tecnicamente tal homem (e de conceber como propriamente humano um modelo ausente de paixões e afecções que remetam ao animal), o sentido desse nexo não fica de todo claro. O próprio Ludueña revela-se consciente de que a epistemologia que põe em funcionamento ainda está por ser mais bem explicitada: “A filosofia pode (...) estudar a teologia desde a perspectiva de uma rigorosa ciência do mito, na medida em que este tem uma eficácia particular sobre o curso do mundo. As bases de semelhante ciência ainda estão por ser estabelecidas, ainda que os trabalhos de Emanuele Cocia nessa direção sejam de uma importância decisiva” (222). Se seguirmos a pista deixada por Ludueña, as coisas ficam um pouco mais claras: “a (...) teologia”, argumenta Coccia, é “aquela ciência que busca transformar a consciência em uma norma, fazer coincidir lei e saber, é o mito de um poder que se exercita somente com a palavra, da palavra como forma suprema de poder, capaz de criar tudo que afirma”; é “um regime de saberes e não um simples saber definível pelos seus objetos ou por meio de uma lista de proposições. Trata-se de um regime que transforma o livre conhecimento do mundo em um fato prático e normativo”. Todavia, o núcleo do problema, a saber, o que se deve entender por “mito”, permanece em aberto (ainda que possamos tomar a teologia assim definida como uma, digamos, “máquina mitológica”, o que, contudo, nos deixaria com um conceito muito pobre e prejudicial de “mito”). Seja como for, nessa nova forma de ver a teologia, Ludueña partilha com Coccia um esforço salutar: a de mostrar como parte da filosofia européia contemporânea, obcecada pela persistência da teologia, busca tentar sair desesperadamente dela, agarrando-se, contudo, aos seus próprios fundamentos: “Se podemos dizer que o cristianismo possui uma particularidade é que se trata de uma forma mitológica radical que previu sua própria a-teologização, des-absolutização e aparente desaparição como forma extrema de sua permanência no mundo” (179). Assim, seria preciso olhar com desconfiança toda tentativa seja de desconstruir o cristianismo (Nancy), seja de tentar ver em um dos fundadores da Igreja e de seu patriarcalismo, Paulo, uma forma de desativá-la (Agamben, Badiou e Zizek), seja ainda de pensar um “messianismo sem Messias” (Derrida). Daí o tom fortemente crítico do livro, que se vê presente nos ataques não só a concepções da filosofia contemporânea, mas à filosofia moderna em sua quase totalidade, que não teria deixado “de ser, em boa medida, uma ancilla theologiae sempre protestando contra o Nome do Pai” (221). A constante invocação da teologia (visando atacá-la, desconstrui-la, etc.) é o que a faz persistir, sobrevivendo espectralmente à sua própria desaparição. E aqui entramos no segundo problema que a “filosofia messiânica” (para usar a expressão de Oswald de Andrade) cristã coloca na ordem do dia com a ressurreição de Cristo: o dos espectros.
A “biotecnologia divina” (182) pode exercer a função de paradigma do reino mundano porque, com a ressurreição do Messias, Deus vence a morte, criando, para isso, a existência espectral. O espectro de Cristo, sua imagem, é uma existência que vive apesar de sua morte, ou melhor, que vive precisamente porque morre, um “morto-vivo”: “mesmo na espectralidade, sua morte não pode realmente ter lugar porque a comunidade cristã dos vivos não cessou em nenhum momento de invocar sua presença e inclusive de fabricar-lhe corpos alternativos para produzir efeitos de re-encarnação. Desse ponto de vista, a máquina litúrgica cristã é uma gigantesca usina que administra e encena a cada vez e constantemente a morte e o retorno do Messias em uma espécie de perpétuo sacrifício sempre recuperado” (155). A “zoopolítica espectral” funda um poder dos mortos sobre os vivos, poder mediado pela imagem. É porque Cristo vence a morte que ele governa a vida, mas isso só é possível na medida em que se concebe uma vida extra-terrena, post-mortem, superior e ausente de animalidade, como vimos. O espectro – aquilo que vive apesar da (e justamente devido a) morte – é o que faz a mediação entre os dois mundos, convertendo ambos em mundos de mortos-vivos, de zumbis. Somos todos walking dead. Isso torna a imagem um dispositivo de extrema importância política: por meio dela, os mortos governam os vivos; ou melhor, para usar uma formulação de Eduardo Viveiros de Castro: alguns vivos (os que controlam o dispositivo espectral) governam os mortos que governam os vivos. Outro salto na argumentação de Ludueña, do mesmo gênero que vimos antes, se dá quando o domínio contemporâneo das imagens é posto em linha de continuidade com o espectro de Cristo: para o filósofo, a sociedade do espetáculo é conseqüência de não se ter feito o luto do Messias. Porque a morte de Cristo não teve lugar, porque ele não morreu propriamente, mas venceu a morte, que continua a nos governar na forma de imagens técnicas secularizadas (o poder das imagens, sua presença fantasmática, só se aquietaria com tal luto, que as tornaria “transparentes”). O argumento do filósofo argentino é de que o messianismo cristão provoca uma mutação não só “no terreno da vida, mas também, e fundamentalmente, no domínio mítico do sobre-natural e, em última instância, da morte mesma. Nesse sentido, o cristianismo capturou e povoou o mundo de espectros, e toda a política ocidental não pode ser compreendida cabalmente se não sob a forma de uma espectrologia. Somente uma ciência política que possa ser capaz de analisar o espaço político que se abre a partir da constituição de uma comunidade espectral poderá estar a altura da compreensão do nosso presente. Por isso também, toda análise conseqüente da zoopolítica implica necessariamente dar conta da dimensão de espectralidade a qual ela está associada, e sem a qual o horizonte político se torna ininteligível. Nesse sentido, o espectro encontra seu lócus mais próprio no centro da cláusula secreta que sela o contrato social que os modernos firmaram com o Leviatã” (218). O argumento de Ludueña necessitaria ser exposto com mais precisão na medida em que há outras explicações mais bem fundamentadas e convincentes para o atual domínio das imagens técnicas (em especial, a de Vilém Flusser). Todavia, como esse volume dedicado à “Antropotecnia” é apenas o primeiro de outros voltados justamente à comunidade dos espectros, é de se esperar que um aclaramento de sua posição esteja por vir.
Desse modo, talvez o maior problema do livro não seja a crítica à filosofia messiânica em si, mas – o que se deixa entrever no final – a total ausência de alternativas a ela. É certo que, partindo de Lévi-Strauss, Ludueña advoga um espaço não-antrópico, em uma bela formulação:
 |
Os desenvolvimentos das antropotecnologias coincidem com o processo mesmo de hominização e com a história da espécie até suas mais complexas formações atuais, e a zoopolítica tem existido pelo menos desde que o animal humano se confrontou com a Lichtung. Se devemos pensar de que modo se pode conceber uma antropotecnologia que não se resolva em tecnologia de dominação e que igualmente abandone a ilusão de transcender o animal que somos com o fim de entregar-se ao projeto de fabricação daquilo que se denomina “homem”, estaríamos frente a uma mutação das técnicas de autopoiesis da espécie com o propósito de que elas deixem de ser, precisamente antropo-tecnologias para converter-se em tecnologias de modelação de um tipo não-humano de ser animal que seja capaz de explorar autenticamente as possibilidades do mundo existente por fora da consciência humana, mundo que se ache amplamente povoado de sensíveis externos e de “objetos” puros. Neste sentido, a gnosiologia deveria ser completamente redefinida para que, em paralelo com a eticidade, seja capaz de dar conta, ao mesmo tempo, do princípio de não-identidade interna que rege o mundo do espírito e da objetividade absoluta do mundo não-humano.
Uma dupla intensificação é possível para explorar a in-humanidade do outrora animal humano: por um lado, o conhecimento filosófico do mundo físico (em sentido aristotélico e também moderno) e, por outro lado, a compreensão dos processos extra-humanos que subjazem na dimensão do pensar e que não devem confundir-se com nenhuma instância pré-individual como forma deficitária de subjetividade. Neste ponto, uma analítica espectral será um primeiro modo possível de começar a internar-se por esse caminho em uma investigação futura. Dentro de semelhante projeto, a noção de sobrevivência deverá desempenhar um papel de primeira ordem (223-224) |
Porém, logo a seguir são descartadas várias soluções que a filosofia contemporânea propõe: a esfera do “uso”, a “ética anômica da vida errante”, a “biopolítica afirmativa”, etc:
 |
Perspectivas desse tipo implicam um otimismo ao qual não há nenhuma razão para aderir. As tecnologias aplicadas sobre a vida tem sido, e seguirão sendo, o caminho que percorrerá Homo. Neste sentido, a zootecnia, entendida aqui como as diversas formas de intervenção sobre o devir ético-biológico e político da própria vida animal de Homo, será impossível de deter e define, neste sentido, um caminho inelutável. Do mesmo modo, nada garante que o mundo natural em sua unidade orgânica reserve algum refúgio seguro para Homo (pode se dar por contada a eficácia de uma ética fundada na natureza?). Seja como for, o fato de que esta dimensão zootécnica originária de Homo não se resolva em um futuro possível integralmente em uma antropo-tecnologia, como foi o caso até o presente, não implica em absoluto alguma garantia contra as tecnologias de dominação. Se pode perfeitamente conceber um mundo ‘impessoal’ que seja um pesadelo, assim como um mundo não-humano que desperte nostalgia do antigo mundo do Homo sapiens. (224) |
O pessimismo não é injustificado, é claro, e serve de vacina para que não se tome como linha de fuga uma highway que expanda ainda mais a “fronteira antropotécnica”. Nesse sentido, cabe lembrar a sábia e irônica advertência de Walter Benjamin: “Pessimismo em toda linha! Sem dúvida e sem restrições (...) mas sobretudo desconfiança, desconfiança e desconfiança quanto a qualquer perspectiva de entendimento entre classes, povos e indivíduos. E confiança ilimitada somente na I.G. Farben e no aperfeiçoamento pacífico da Força Aérea”. Porém, causam certo espanto duas coisas: por um lado, a generalização da antropotecnia como destino humano universal, sendo que o livro abordou apenas o devir antropotécnico do Ocidente; e, por outro, que a única saída vislumbrada por Ludueña seja a “necessidade do filosofar como única ferramenta de acesso, temporário e fragmentário, a algum tipo de fora do poder” (225). Soa um tanto paradoxal (para não dizer pequeno) advogar a filosofia como única via de acesso a um fora do poder na medida em que o livro inteiro não poupa, como vimos, ataques à filosofia antiga e moderna. É verdade que aqui o filósofo argentino está pensando em outra concepção de filosofia: “é possível pensar que a filosofia não seja apenas uma atividade própria do homem, e sim uma forma especial de direcionalidade do vivente que tem a potencialidade de transcender seu próprio substrato de origem e ter lugar ali onde haja pensamento”; por isso, “é uma autêntica tarefa filosófica (com todos os riscos que isto implica) o explorar sobre bases completamente novas o espaço do vivente, assim como do inerte, do orgânico assim como do inorgânico” (225). Aqui, o recurso às investigações de Emanuele Coccia, interlocutor próximo de Ludueña, e que assina a orelha do livro, pode nos ajudar a entrever o que está em jogo. O jovem filósofo italiano argumenta que o Ocidente cristão nunca indagou qual deveria ser a relação da filosofia com a lei – ao contrário do mundo hebraico e do islâmico (lembremos, por exemplo, do belo Tratado Decisivo de Averróis, no qual, segundo Daniel Heller-Roazen, a filosofia “escapa o julgamento no momento em que é submetido a ele”). É certo, continua Coccia, que a lei é um dos objetos da filosofia ocidental, mas ela é, sobretudo, “uma das formas praticadas da lei”, ou seja, teologia. Seria preciso, portanto, uma outra filosofia, não-antrópica e que questionasse a fundo sua relação com a lei, seu lugar diante da lei. Que filosofia seria essa? E será que devemos chamar tal amar-saber ainda de filosofia?
Aqui, para encerrar, vale uma deriva por outra crítica da filosofia ocidental e do cristianismo, a (já mencionada) de Oswald de Andrade. A crise da filosofia messiânica é uma obra até hoje incompreendida na academia (e totalmente banida na repartição universitária que se autodenomina filosofia), e as suas bases metodológicas recém começaram a ser estudadas a fundo, a partir, por exemplo, da investigação (em especial, por Gonzalo Aguilar) do método “Errático” que Oswald lança mão (aliás, é possível que a noção de “ciência do vestígio errático” guarde semelhanças com a noção de sobrevivência, que Ludueña julga fundamental para a dupla intensificação necessária para explorar a in-humanidade do animal humano). Na tese de Oswald, a criação de uma vida extra-terrena e da parafernália que faz a sua mediação com o nosso mundo (o sacerdócio, pseudoetimologicamente remetido a ócio sagrado, e caracterizado como a classe que instrumentaliza a ausência de fundamento – humanidade – do homem) caracteriza o messianismo e o Ocidente enquanto força dominante (identificada sob a alcunha do “Patriarcado”). A ela se oporia outra força, a da Antropofagia (ou “Matriarcado”), que existe tanto no interior do próprio Ocidente, quanto fora dele.
A escolha da Antropofagia não é fortuita: ela parece ser uma espécie de buraco negro que ameaça dragar o Ocidente e que precisa ser constantemente expurgada (ou remetida a um passado primordial como tabu, na versão freudiana, por exemplo). O próprio livro de Ludueña nos fornece um exemplo disso, quando retoma as dificuldades que o canibalismo colocava para a doutrina da ressurreição da carne: a carne de alguém, comida e digerida por um canibal, tornaria àquele no Reino dos Céus, ou se incorporaria à deste? Há muitos outros exemplos desse “triângulo das bermudas” conceitual provocado pela Antropofagia. Para ficar com apenas mais um, muito instrutivo, cabe lembrar o relato de Carl Schmitt sobre as disputas das nações européias em torno às terras do Novo Mundo: as potências européias recrutavam indígenas, muçulmanos, matavam mulheres e crianças, se acusavam mutuamente de criminosos e assassinos para justificar as hostilidades. Todavia, essa disputa não impedia que houvesse um limite: “Somente uma ofensa omitiam entre si, uma ofensa que era empregada com singular predileção contra os índios: os europeus-cristãos não acusavam uns aos outros de praticar a antropofagia.” Portanto, o antropófago é, aos olhos ocidentais-messiânicos, o outro (ainda) animal, aquele que parece dificultar ao máximo o processo de antropotecnia. Quando, ao final da vida, Oswald advoga uma “reabilitação do primitivo”, ele entende a Antropofagia como “uma espécie de comunhão do valor que tinha em si a importância de toda uma posição filosófica”: “A Antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração opondo-se a todas as ilusões salvacionistas”. Por isso, o projeto que lançava ao futuro preconizava “uma sociologia nova e uma nova filosofia, oriundas possivelmente dos Canibais de Montaigne [, que] venham varrer a confusão de que se utilizam, para não perecer, os atrasados e os aventureiros fantasmais do passado”. Aqui não há espaço para me deter o suficiente na referência a Montaigne, mas cabe assinalar rapidamente duas coisas: 1) Oswald está reprisando que é possível pensar, nas condições atuais, e dentro do Ocidente, uma linha de fuga a ele que é inspirada fora dele, ou que o põe fora dos eixos; 2) e está advogando uma filosofia que questione sua própria condição enunciativa, sua própria práxis discursiva e normativa, sua relação diante da lei (sobre isso, a referência continua sendo a História de Lince de Lévi-Strauss, que, “Relendo Montaigne”, observa como na “Apologia de Raimond Sebond”, Montaigne, fazendo uso de “seus dados etnográficos de modo bem mais radical” que no capítulo dedicado aos canibais, modifica uma passagem da tradução que Amyot fizera de Plutarco, substituindo “Não temos nenhuma participação no verdadeiro ser” por “não temos nenhuma comunicação com o ser”: a filosofia perde toda chancela normativa). O que estou querendo dizer é que há alternativas à filosofia messiânica, há inclusive uma concreta e que atende pelo nome de Antropofagia: as metafísicas canibais e as formas-de-vida dos ameríndios que tomam como mote a idéia de que “Nada existe fora da Devoração. O ser é a Devoração pura e eterna”. É verdade que os contornos dessa filosofia em “ocidentalês” ainda estão começando a serem traçados, em especial através da noção de perspectivismo ameríndio. Mas em tais contornos já vemos toda uma concepção que difere radicalmente da messiânica e mesmo da zoopolítica. Detenhamo-nos naquelas características em que as “metafísicas canibais” se opõem explicitamente às que Ludueña identifica como centrais na zoopolítica ocidental:
- a mais marcante, sem dúvida, é a condição genérica inicial entre animais humanos e não-humanos. Para o ameríndio canibal, para o antropófago, a condição primária (mítica) comum entre os viventes é a humanidade, não a animalidade (um mito yanimawa inicia-se do seguinte modo: “No começo não havia nada, só pesssoas”). Aos poucos, os animais foram se diferenciando dos homens, ganhando “roupas” diferentes (naturezas diferentes), enquanto o homem ficou nu. (O xamã é aquele que é capaz de vestir uma roupa não-humana, de viajar – temporária e precariamente – e se comunicar com as outras naturezas). Aqui fica evidente a diferença tremenda com o mote da zoopolítica ocidental, a antropotecnia: não há uma animalidade primária a ser eliminada para que o homem devenha homem. Oswald de Andrade viu na biologia anti-evolucionista de Edgard Dacquè (também admirado por Walter Benjamin) algo parecido: nela, o homem é um germe que existe primordialmente, dando origem a todas as espécies animais.
- As conseqüências sócio-ambientais de tal concepção perspectivista do mundo vivente são enormes: “homem”, “gente”, “pessoa”, é apenas uma posição, uma perspectiva (as onças são “gente” para as outras onças, enquanto os homens são “onças” para elas). A antropofagia – enquanto prática que baseia as cosmologias e a organização social ameríndias em geral – não é a absorção do outro, das qualidades dos outros, mas de sua posição: uma metamorfose, não uma mestiçagem. Ao comer o outro, o antropófago adota a sua perspectiva, e, portanto, vê-se como inimigo (vê-se como o seu inimigo deglutido o veria). O outro (humano ou não-humano), a sócio e biodiversidade convertem-se em condição (prática, e não somente metafísica) sine qua non da existência de si.
- Essa continuidade sincrônica entre os viventes (humanos e não-humanos) implica, para Viveiros de Castro, uma descontinuidade diacrônica entre vivos e mortos: o morto tem de se tornar um inimigo para que não governe. Por sua vez, nas sociedades em que vigora o culto aos mortos (continuidade diacrônica), há descontinuidade sincrônica entre os viventes, isto é, hierarquia (social e biológica). Os mortos devem se tornar inimigos para que não governem os vivos (e para que alguns vivos não governem os demais).
- A organização política que a antropofagia implica é, como sabemos desde Pierre Clastres, a da sociedade contra o Estado. Nela, a palavra não se faz lei como na teologia – pelo contrário: a palavra do chefe é, no limite, sem efeito algum, é um significante vazio, em um sentido completamente distinto ao que Ernesto Laclau lhe confere. O significante vazio do chefe não é uma demanda, uma imagem que, por ser vazia, hegemoniza outras; é, ao contrário, uma figura que impede a hegemonização e a homogeneização. A antropologia recente, através dos estudos, entre outros, de Beatriz Perrone-Moisés, tem mostrado que tal prática de esvaziamento do lugar-do-chefe, a sua conversão em significante vazio está presente em grande parte da mitologia ameríndia: o “nome” do “chefe que quer bancar o chefe” é convertido em uma posição simbólica esvaziada de todo poder concreto (com a anuência do próprio).
Pode-se objetar que as cosmogonias canibais ameríndias e suas conformações sócio-políticas são irrealizáveis como tais no Ocidente. Isso não implica, porém, que não existam, dentro do Ocidente, forças análogas (como há, entre os ameríndios, forças que tendem à estatização). Por isso, Oswald e seus companheiros da primeira fase da Antropofagia, enquanto vanguarda do final dos anos 1920, insistiam que não advogavam um “retorno”, mas uma “descida”: “Antropofagia é simplesmente a ida (não o regresso) ao homem natural(...) O homem natural que nós queremos pode tranquilamente ser branco, andar de casaca e de avião. Como também pode ser preto e até índio. Por isso o chamamos de ‘antropófago’ e não tolamente de ‘tupy’ ou ‘pareci’”. Por isso também que quando, mais tarde, Oswald de Andrade tenta dar cidadania filosófica à Antropofagia, não a restringe aos povos ameríndios, identificando-a como uma força constante, ainda que reprimida, presente também no Ocidente. Aqui, sujeito e objeto se confundem. Em um dos seus últimos textos, no qual defende a “reabilitação do primitivo”, Oswald faz um apelo para que seja feita uma “revisão de conceitos sobre o homem da América”, para que se tome “em consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida como devoração e levem adiante toda uma filosofia que está para ser feita”. Pode parecer que a filosofia se torna, assim, antropologia (em um sentido radicalmente distinto do projeto kantiano, ou da mal-explicada redução da filosofia a uma antropologia acrítica proposta por Sloterdijk, e diferente ainda da “antropologia filosófica” recentemente esboçada por Agamben). E, de fato, a filosofia se torna(ria) antropologia, mas uma antropologia de cunho distinto, a “antropologia reversa” de que fala Roy Wagner. Se a filosofia se debruça(r) sobre o conceito ameríndio da vida como devoração (como metamorfose), ela, ao mesmo tempo, pratica a devoração – devém outra, rompendo seus laços com a lei, com a teologia e com a zoopolítica. Se a filosofia se debruça(r) sobre o conceito de vida do outro (ameríndio), ela pratica tal conceito: ela toma sua perspectiva, e desnaturaliza a nossa. Em ainda outra formulação: tomar a perspectiva do antropófago é já praticar tal perspectiva (caracterizado pela possibilidade de devir-outro, de metamorfose). Até agora, os filósofos se limitaram a interpretar e transformar o mundo; cabe à filosofia que vem, à filosofia antropófaga, multiplicar o mundo, as possibilidades de mundo(s) (isto é: acabar com o “Estado”, o conceito-prática que reduz a Um – à necessidade – as possibilidades). É em favor de tal pensamento comum e múltiplo, e contra o pensamento único messiânico, que milita o belíssimo livro de Ludueña.
Clique aqui para ler a resposta do autor >> |

