

O homem em farrapos: a moda e o novo em Flávio de Carvalho
Victor da Rosa
A Raisa Balona
1,
No ano de 1993, o designer de moda Hussein Chalayan realiza uma coleção que logo se tornou um marco na história da moda recente. Três meses antes do desfile, que serviu como conclusão de um curso realizado na Universidade de Saint Martin, Chalayan enterrou os vestidos da coleção no jardim de sua casa e desenterrou somente alguns dias antes de aparecerem, atribuindo uma aparência meio bizarra à exposição, intitulada The Tangent Flows. As peças, que chegaram a apodrecer em algumas de suas partes, além de carregar o peso e a textura da terra – a própria sujeira do barro –, perderam também as qualidades mais nobres que a alta costura proporciona; em poucas palavras, se transformaram em espécies de trapos, objetos velhos, usados e, portanto, sem valor.

Por um lado, Chalayan parece se apropriar do traço talvez de maior radicalidade que a moda – penso em sentido amplo, digamos, e não apenas como ordem do traje – deve oferecer para a história: sua capacidade de alteração incessante, sua fragilidade diante da ação do tempo. Pode-se sugerir a leitura de que, por um lado, com o senso comum, eu diria, Chalayan está realizando uma crítica ao sentido de efêmero que é iminente a toda moda, seu caráter banal e passageiro; por outro, não parece equivocado imaginar – antes, parece mais difícil – que os vestidos enterrados se apropriam e nos colocam, mais além do valor, diante daquilo que há de mais paradoxal no próprio conceito de moda: o novo. Na primeira leitura, como crítica ao sistema da moda, o objeto deve se tornar outra vez estável, reconhecível; na outra, ao mesmo tempo velho e novo, alto e baixo, ele quer reviver através de seu próprio paradoxo.
De fato, o procedimento que Hussein Chalayan parece realizar diz respeito a uma espécie de aceleração do tempo. A força de resistência do vestido debaixo da terra, à sua maneira, pode ser percebida como a própria resistência da moda – que seria fraca ou efêmera – diante da história. Ou seja, assim como a moda, o vestido torna-se velho rapidamente. Seja como for, ele é recebido segundo a expectativa da moda, como novo. Depois, a presença do vestido em farrapos, com o peso do tempo e as marcas da terra em sua superfície, quer nos dizer também sobre a impossibilidade de controlar o presente. Nesse sentido, a moda pode ser definida como o descontrole do presente, uma abertura extrema. Sua posição na história se dirige àquele ponto em que não há mais verdade universal que possa controlar nossas vidas. Afinal de contas, o que Chalayan parece evidenciar, na medida em que entrega sua coleção de vestidos ao acaso do tempo – lembrando a criação de poeira de Marcel Duchamp –, não é outra coisa senão isso: o futuro não é previsível. E essa talvez seja a maior lição que a moda nos legou.
O crítico de arte Boris Groys, em sua reflexão sobre o novo, Du nouveau, dedica um belíssimo fragmento à moda: “Le nouveau et la mode”. Groys argumenta neste fragmento que, apesar das condenações – injustas, em sua maneira de pensar – que a moda sofreu tanto na modernidade quanto nas últimas décadas, ela também é investida, sobretudo pela sua forma de alteração contínua e busca pelo novo, por um traço revolucionário: “En effet, la mode est radicalement anti-utopique et anti-totalitaire, puisque son changement incessant témoigne de ce que le future n’est pas prévisible, qu’il ne peut échapper au changement historique, et qu’il n’existe pás de verité universelle susceptible de la déterminer dans son intégralité” [“Com efeito, a moda é radicalmente anti-utópica e anti-totalitária, pois sua transformação incessante testemunha que o futuro não é previsível, que ele não pode escapar à mudança histórica, e que não existe verdade suscetível de determiná-la integralmente”]. Para Groys, a condenação que se faz à moda parte justamente da crença em uma verdade universal, em uma verdade capaz de determinar o presente e o futuro em sua integralidade, ou mesmo da crença de que o dever do pensamento é se preservar da mudança histórica: “Oh, isso não é mais que uma moda!”
A moda, pelo contrário – seja na arte, no traje, nos hábitos ou até mesmo nos sistemas de pensamento, como a filosofia –, está sempre inacabada, informe; por isso ela não é um produto, mas sim um processo. Como procura pelo novo, a moda aparece para Groys como um meio através do qual é possível se liberar do poder do passado: “Mais surtout, le nouveau donne à l’auteur individuel la possibilite d’affirmer sa propre vie comme une valeur dans le temps historique et de se libérer du pouvoir du passe” [“Mas sobretudo, o novo oferece ao autor individual a possibilidade de afirmar sua própria vida como um valor no tempo histórico, e se liberar do poder do passado”]. Depois, para o crítico, a moda acaba violentando as igualdades aparentes de seu tempo, introduzindo-se entre as camadas da história como uma diferença essencial, mas sempre provisória, infame, no meio de todas as diferenças parciais: “Se toutes choses ne se distinguent pás lês unes dês autres que partiellement, tout en demeurant cependant égales, la mode viole cette égalité aparente, en faisant ressortir comme plus essentielle et comme ayant plus de valeur une difference quelconque entre toutes lês differences partielles” [“Se todas as coisas não se distinguem umas das outras senão parcialmente, permanecendo, no fim das contas, iguais, a moda viola esta igualdade aparente, ressaltando como mais essencial e como tendo mais valor uma diferença qualquer dentre todas as diferenças parciais”], escreve Groys. Daí seu caráter subversivo, anti-totalitário.
Boris Groys pensa diferente do senso comum – “une opinion dépandue” – também sobre as marcas que a moda é capaz de deixar na memória cultural, que é afinal de contas o tema de seu ensaio: “ainsi, contrairement à une opinion répandue, c’est justement ce qui est aujourd’hui à la mode qui a lês plus grandes chances d’etre preservé dans le futur” [“assim, contariamente a uma opinião difundida, é justamente aquilo que está na moda hoje que tem maiores chances de ser preservado no futuro”]. O que Groys está argumentando é que, a rigor, Kant foi a moda do século XVIII. De outra maneira, diferente da idéia – verdadeira, à sua maneira – de que a moda também é capaz de construir sistemas rígidos de diferenciação, de que a moda se rende a uma atitude social elitista e a uma hierarquia de valores, hierarquia válida e reconhecida no interior de um grupo determinado, Groys prefere pensar que a moda possui uma força que, de forma violenta, se direciona contra as regras de uma tradição estável. A moda e o novo, como procedimento de vanguarda, nesse caso, tornam-se sinônimos.
2,
Flávio de Carvalho, em seus ensaios sobre moda, publicados originalmente no jornal Diário de São Paulo, durante o ano de 1956, e recentemente reunidos em livro [A moda e o novo homem. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010], sugere “quatro conclusões fundamentais” – na verdade, trata-se de quatro teses sobre a moda – que irão nortear toda sua reflexão. Uma delas, a terceira, consiste na idéia de que a moda se processa de baixo para cima: “As grandes mutações da moda acontecem de baixo para cima na hierarquia social e quando o alto é atingido, as mutações se disseminam como moda.” Para Flávio, a moda nasce do sofrimento e da dor, nasce da “imaginação das ruas”, talvez da improvisação e da espontaneidade, e não nas cortes, nos palácios e nos ateliês de alta costura, por exemplo.
No texto intitulado “A grande imaginação do limite vagando pelas ruas”, mas também em outros textos de sua coluna – pois Flávio de Carvalho parece construir um pensamento em espiral, sempre retornando ao ponto de onde partiu – o autor explicita melhor as suas razões. Para Flávio, é da loucura e do sonho “de homens e mulheres que perderam o controle dos seus desejos e das suas angústias e que se apresentam vagando pela rua, discursando histericamente para um público às vezes imaginário”, enfim, é deste imaginário que surge a grande moda. Quer dizer, são os “marginais descontrolados” que exibem “profuso aparato e ornamento, cobrem-se com flores e fitas, e cores e panos diversos que se desdobram, agradavelmente”, são eles os detentores da grande imaginação. A grande moda, em outras palavras, seria uma antimoda.
A tese de Flávio de Carvalho tem conseqüências interessantes e bem radicais. Para o autor, o que define a moda é o movimento; e nesse caso Flávio não está muito longe de Boris Groys, para quem a moda é a história sob a forma da imprevisibilidade. Um dos motivos pelos quais a grande moda nasce do ponto mais baixo da hierarquia social, na leitura de Flávio, diz respeito à sua ligação com as necessidades imediatas e materiais do trabalho. E o movimento, da maneira mais literal, é a principal destas necessidades. Ou seja, a necessidade do movimento produz força, desejo e, portanto, alteração. Assim, em outro de seus textos, o autor vai argumentar o seguinte: “As mutações da moda são facilidades para o movimento do corpo e para o exercício do trabalho e por esses motivos eram geradas nas classes que mais exerciam essas atividades, isto é, o povo, o agricultor, o escravo, o soldado”. Trata-se de um desejo de movimento no corpo, da possibilidade que o trajo oferece para o movimento do próprio corpo, mas também para o movimento da história.
A imagem do “homem em farrapos”, nestes termos, imagem recorrente em diversos textos de Flávio de Carvalho sobre moda – título de um deles, inclusive – pode ser entendida como principal alegoria de sua tese. O homem em farrapos, em suas palavras, “é um desclassificado, o totalmente sem classe, um posto de lado pela sociedade” – ou então “o contrário do homem investido de autoridade, o contrário do homem uniformizado e o oposto do homem endurecido pela disciplina”. Seja como for, o farrapo, trajo sem valor, marca o limite mesmo entre a roupa e a ausência de roupa, entre a cultura e um estado primitivo, o ruído e a linguagem articulada, enfim, entre o tabu e o totem. “O homem em farrapos é o homem a caminho do abandono da roupa, é o homem a caminho de uma vida idêntica à dos mamíferos inferiores”, nos diz ainda Flávio.
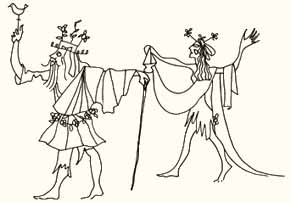 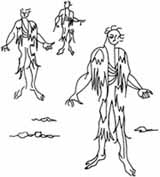
Ao mesmo tempo, ainda de acordo com o autor, o farrapo servirá como modelo das modas mais estranhas e mais requintadas na história da elegância humana. O farrapo, vindo dos lugares sem classe, alcança também os reis e os “deuses moribundos”. Dessa maneira, o Imperador Carlos V, representado em 1532 – assim como o rei Dom Sebastião, de Portugal –, terá “as mangas, as calças e o gibão (...) compostos de panos cortado em tiras como se fossem trapos”. Certos trajos, ainda de acordo Flávio de Carvalho, chegavam a ter cinco mil cortes e, diferente de sua origem, o farrapo se tornou um recurso extremamente dispendioso e caro. O mesmo ainda acontece com a moda dos bobos da corte, personagens que imitavam os reis na maneira de falar e de se vestir. De fato, através do trajo, passa a existir uma ligação definitiva entre o rei em farrapos, o bobo do rei e o próprio rei momo do carnaval.
A moda em farrapos, ainda antes, na medida em que reaparece com as revoltas comunistas nos séculos XIII e XIV, quando populações camponesas vivem na mais absoluta miséria – vagando desabrigadas, famintas, com as roupas desgastadas e as pernas de fora –, enfim, a moda em farrapos atinge também os soldados alemães, mais ou menos nos anos de 1400. “Esse aspecto permanecera visível o tempo suficiente para impressionar as hierarquias e sempre em primeiro lugar a que estava mais em contato com o faminto maltrapilho, isto é, o soldado destacado para reprimir as revoltas”. Dessa maneira, a morfologia do farrapo pode ser percebida através de vários traços no trajo dos soldados: em alguns deles, a perna esquerda apresentará furos em toda sua altura; em outros, as mangas também terão sintomas de farrapos; em alguns casos, até mesmo os gorros terão cortes simulando panos soltos. Enfim, em momentos diferentes da história, as mais altas aristocracias, dos reis aos soldados – aliás, segundo a perspectiva de Flávio, são os soldados que fazem a ligação entre o povo e a nobreza – adotam o trajo esfarrapado durante longo período de tempo.
A moda em farrapos tem ainda outra conseqüência fundamental para a história da moda: a exibição das pernas. Com a apropriação do trajo em farrapos pela nobreza, os homens da corte passam a mostrar suas pernas ao mundo. No período do Renascimento, o homem abandona as vestes talares, trajo característico da Idade Média, de origem romana, que cobria as pernas até os calcanhares, e incorpora os decotes. A mudança, segundo Flávio de Carvalho, não deixa de ser brusca: “do talar pudico para as linhas das pernas moldadas com malha e inteiramente descobertas quase até a cintura”. No entanto, a mudança se tornou brusca na medida apenas em que é localizada na nobreza, pois as pernas livres dos camponeses e dos artesãos – “que necessitava tê-las livres para o trabalho” – já podiam ser vistas dois séculos antes.
A presença do farrapo na história da moda – farrapo, em francês, se diz guenille – ainda teria importância na formação da cauda, elemento fundamental na indumentária de vários períodos da moda e que, na leitura de Flávio, indica luto e ausência de procriação: “A palavra guenille, provavelmente um diminutivo do velho Gone que significava um vestido de cauda ou casaca, nos mostra que o farrapo ou guenille estava ligado ao rigor e ao luto da cauda (...)”. A passagem do farrapo para a cauda ainda se verifica, segundo Flávio, em um costume da cultura judia que consiste em rasgar seus trajos durante os funerais para que se arrastem como longas caudas. “A palavra inglesa Gown, que significa vestido comprido, é sem dúvida derivado do velho Gone”. É possível entender de outra maneira, a partir da noção de “homem em farrapo”, o motivo pelo qual o look tropical que Flávio elabora para desfilar pelas ruas de São Paulo, em outubro de 1956 – mais conhecido como New Look –, além de possuir alguns vazamentos para a entrada de ar, guarda uma sutil aparência com o traje do arlequim.
3,
Ser tiranizado pela moda significa permanecer em equilíbrio.
Flávio de Carvalho
Nas últimas linhas de uma conferência realizada na capital pernambucana, em um Seminário de Tropicologia organizado por Gilberto Freyre no ano de 1967 – mais de dez anos depois de seu desfile pelas ruas de São Paulo, portanto – Flávio de Carvalho diz “duas palavras” sobre o trajo que desenvolveu; um trajo “adaptado do trópico”, segundo sua definição. São duas palavras apenas, mas duas palavras reveladoras, afinal, na medida em que Flávio volta a pensar sobre a elaboração de seu trajo bizarro, faz também um movimento ao passado na releitura de alguns de seus textos, e ainda desfaz um mal entendido a respeito de uma interpretação geral que se construiu da noção de “novo homem”. Em resumo, é preciso argumentar que Flávio não escreveu exatamente sobre “moda masculina”. Só quem não leu seus textos com cuidado pode fazer essa afirmação. Pelo contrário, a afirmação de que Flávio está tratando exclusivamente de moda masculina acaba apagando aquilo que se apresenta como um dos conceitos mais radicais e conseqüentes construídos ao longo de sua reflexão, mas que só aparece explícito em seus últimos textos: a noção de unissexo. Mas vamos, por enquanto, mais devagar.
Quando Flávio inventa seu new look e desfila pelas ruas de São Paulo, o artista está procurando realizar, segundo afirma na conferência, dois desejos fundamentais: a construção de uma moda tropical, que deve ser necessariamente uma moda das ruas, e não uma moda privada; e também um prognóstico. “A minha intenção de projetar um trajo adequado ao trópico era somente uma necessidade de modificação da indumentária, mas também era um prognóstico, foi um prognóstico feito há 11 anos atrás, de acontecimentos que estão se iniciando hoje”, diz Flávio. A rigor, sua performance se conjuga dentro de uma associação radical entre tempos distintos: um olhar para o passado, aos ossos do mundo, como queira, que é aqui a própria história da moda, e também uma procura incansável pela transgressão. De outra maneira, quando descreve a peça com a qual desfilou, Flávio não deixa de enfatizar que ela é projetada de uma maneira que facilite justamente o movimento do corpo: válvulas no blusão permitiam o movimento dos braços e que, por sua vez, provocava a renovação do ar; o saiote acima dos joelhos exibindo as pernas; as meias de malha, também nas pernas, tinham a função de esconder as varizes, mas também elas não impediam a circulação de ar; o blusão é aberto embaixo; e finalmente, até mesmo a gola ao redor do pescoço, um substituto do colarinho, era frouxa e não impedia a circulação.
Para Flávio, o poder age sobre a indumentária, durante toda a história da moda, na medida em que imobiliza o corpo. Isso pode ser percebido, em sua leitura, através da indumentária religiosa, por exemplo, ou mesmo também através de algumas peças femininas, como a saia justa. Em uma reflexão sobre Joana D’Arc, Flávio afirma sobre o significado de uma mulher, no século XV, usar calças: “Na persistência de Joana D’Arc em usar calças, mesmo quando encarcerada e quando recebia ordens de mudar para o trajo da mulher, encontramos uma manifestação da elasticidade sempre latente na mulher procurando um nivelamento ao sexo dominante”, escreve Flávio, e depois ainda conclui: “para alcançar esse nivelamento, [deve libertar] os movimentos da parte inferior do corpo, da cintura para baixo”. Isso porque é através da saia justa que a mulher era inicialmente amarrada e paralisada; e mesmo no século XX, segundo Flávio, a saia justa aparece ainda como uma espécie de sobrevivência de amarras antigas, ou seja, como forma de indumentária que tem como principal função dificultar o movimento.
Além da saia justa, também a grande quantidade de paramentos, que Flávio de Carvalho chama de “empilhamento crescente da indumentária”, diz respeito a uma forma de poder. Na medida em que se eleva a classe hierárquica, cresce também o número e o peso dos paramentos. Isso é bastante visível, como mostra Flávio em uma série de textos, na moda religiosa. Das ordens menores, que podem usar apenas uma túnica simples, sem qualquer acessório, até os arcebispos e finalmente o papa, o que se percebe é um empilhamento cada vez maior tanto de indumentárias quanto de acessórios, que são por si um excesso. Se, por um lado, o homem em farrapos exibe os braços e as pernas, exibe o corpo quase nu; por outro, o papa se apresenta como paradigma máximo da imobilidade. Em outras palavras, se por um lado há o paradigma da exibição das pernas, do corte na roupa; por outro, como antítese, há “o isolamento das pontas do corpo”, isolamento do corpo mesmo em relação ao mundo. É a conclusão a que Flávio de Carvalho chega quando observa as alterações do trajo religioso: “Estudando os trajos da hierarquia religiosa observa-se um importante fenômeno: o isolamento gradual do corpo, à medida que a classe hierárquica se eleva”.
A religião é a imitação da morte, e será na construção de sua indumentária, através do fim do movimento e do fim da exibição do corpo, que a morte dará seu principal testemunho. Há um texto específico em que o autor refaz uma espécie de genealogia da moda religiosa, texto intitulado justamente de “A imitação da morte – o isolamento do corpo”, e ali observa que os trajos litúrgicos têm origem popular, com as túnicas sem cinto, mas vão sofrendo adições e modificações, principalmente do século IX ao século XII, que afinal preparam o corpo para o espetáculo da morte. De fato, é no século IX que se completa o processo daquilo que Flávio chama de “simbolização hierárquica do trajo litúrgico”. Pedras preciosas, bordados e inúmeros paramentos, assim como a proteção das pontas do corpo – realizada com panos e luvas, no caso das mãos; sapatos, no caso dos pés; e com mitras, para isolar a cabeça (justamente as três partes do corpo mais solicitadas pelo movimento) – começam a ser usados por todos os bispos. Quanto mais alta a classe hierárquica, mais isolado torna-se o corpo. “O isolamento máximo traz a imobilidade máxima na mais alta hierarquia. Imobilidade e altura hierárquica se confundem. Paradoxalmente a proteção ao movimento conduz à ausência de movimento”, conclui.
Ora, o new look de Flávio, seu desfile pelas ruas de São Paulo, happening conhecido como Experiência nº 3, de certa maneira, repete sua experiência anterior, quando o artista enfrenta uma procissão vestido com um boné. O que Flávio faz com seu trajo tropical é também uma espécie de invasão no meio de um debate entre dois paradigmas da moda, que são, a rigor, dois modos de pensar a cultura: o homem em movimento e o homem imobilizado, ou seja: a exibição das pernas e o isolamento das pontas do corpo. O new look de Flávio, sem meias palavras, é uma postura contra o trajo litúrgico. A exibição das pernas, sem dúvida, se apresenta como a associação mais direta com o homem em farrapos, mas também a semelhança com o arlequim – que, de acordo com toda a iconografia que existe a seu respeito, não costuma exibir as pernas, mas seu trajo é construído inteiramente com remendos, como um bricoleur – solicita uma espécie de memória do fragmento. De resto, há outra conseqüência que se pode depreender ainda de sua peça, justamente aquilo que Flávio apresentou na conferência como um prognóstico, mas que já estava sugerido em dois ou três de seus textos: o nivelamento entre masculino e feminino.

4,
A história da moda, nos mostra Flávio de Carvalho, testemunha também uma série de apropriações da indumentária masculina pelas mulheres e vice-versa. O último de seus textos sobre moda, nesse sentido, mais do que esclarecedor, é também visionário. Nele, Flávio esboça outro conceito que, assim como a noção de “homem em farrapo”, é central para entender seu pensamento e mesmo sua experiência de desfile com o new look. Para Flávio, o homem vive um momento que poderia ser imaginado como uma “Volta ao Útero”, isto é, “a um momento no qual o sexo é quase indefinido”, pois “os seus cabelos se apresentam compridos como os da mulher ou longos como eram usados na Idade Média, ele ostenta um decote e ornamentos e berloques que atualmente são usados por mulheres, e quando não usa barbas e é visto de uma certa distância torna difícil distingui-lo da mulher”. Por outro lado, a mulher, através principalmente da “exibição de formas nuas e adoção de indumentária masculina”, fatos bastante marcados na história do século XX, mas não apenas, procura intensificar seu desejo de nivelamento com o sexo oposto.
Se for verdade – Flávio não deixa de afirmar isso – que a moda do trajo, dentre todas as modas, é a que mais influência exerce sobre os homens porque diz respeito àquilo que está mais perto do corpo, então talvez o nivelamento dos trajes deva nos dizer algo além do trivial. Os movimentos de nivelamento levam a uma nova forma de compreensão da subjetividade e mesmo do erotismo que Flávio de Carvalho vai chamar de Unissexo, ou sexo único, forma que conduziria nossa relação com o corpo a dois lugares ou dois rumos diferentes: o homossexualismo entre homens e mulheres. Nesse caso, diante da dissolução da família, que necessita de definição entre os gêneros para garantir o seu lugar, já que é fundada sobre a lógica da propriedade – ou seja, da fronteira –, a mulher deixaria de ser controlada por sua função procriadora e seria levada a pensar outra forma, mais aberta, de relação social. “O contato homem-mulher se processaria para prazer e negócios”, escreve Flávio.
Em poucas palavras, a rigor, a conquista da mulher passa também pela conquista do trajo. Na verdade, em vários momentos da história, homem e mulher já se vestiram iguais. A necessidade de cobrir as partes inferiores do corpo com panos – principalmente as partes abaixo da cintura – surge nas sociedades primitivas não só como proteção contra o clima, e sim como forma de nivelamento, como “uma tentativa para eliminar a luta contra os sexos”, momento também de impedimento do livre movimento das pernas. Mas também em períodos como o século XIII, quando ocorrem tentativas comunistas, homem e mulher se vestem com túnicas idênticas, assim como o período da Revolução Francesa. Outro detalhe interessante na história da moda é o revezamento entre homens e mulheres da maneira como se utiliza a altura da cintura: “A posição da cintura no homem e na mulher se revezam através da história: quando a mulher usa cintura baixa o homem usa cintura alta e vice-versa”.
O fim do “tratado de paz” entre homens e mulheres, no entanto, acontece quando o homem passa a usar calças, peça que facilita o movimento das pernas e explicita uma diferença, através do trajo, entre masculino e feminino. Na verdade, a calça pode ser percebida como uma tecnologia de dominação do masculino. “A calça ligada ao movimento das pernas, movimento que concedeu Visão Geográfica e Inteligência, passa a ser um atributo do homem e uma maneira de diferenciá-lo da mulher”. O primeiro registro de calças encontrado por Flávio de Carvalho remete ao século VII antes de Cristo, quando era usada por guerreiros, assim como pelos gregos duzentos anos depois. Aliás, no texto sobre “A origem popular da calça”, Flávio refaz uma genealogia também dessa peça tão importante para a diferenciação dos sexos: de como ela atravessa a era Cristã e passa pela Idade Média até chegar a Pantaleone, personagem que no século X torna-se uma espécie de santo padroeiro de Veneza e produz um personagem de comédia ligado à calça; enfim, de como a calça se torna uma peça versátil, em todo caso, usada por homens de todas as classes sociais, em momentos distintos da história, mas uma peça fundamentalmente masculina. Não é aleatório, portanto, o caráter transgressor de Joana D’Arc, na história da moda, quando se apropria do uso da calça. No século XX, as mulheres voltam a usar a peça.
Por isso, a noção de Unissexo, assim como a noção de “homem em farrapos”, é tão importante para Flávio de Carvalho. Em seu new look, como estratégia inversa de nivelamento, em todo caso, Flávio abre mão da calça em favor da saia. Depois, em ambos os conceitos está em processo um traço comum, uma associação que possui todo interesse para o seu pensamento, a saber: a ausência de classe. Assim como o homem em farrapos, um ser “totalmente sem classe”, em suas próprias palavras, também a noção de Unissexo deseja apagar a linha demarcatória que separa o homem da mulher e, no limite, o homem do animal. Afinal, a noção de Unissexo não faz uma terceira categoria, e sim sugere uma ausência de categoria, uma nova forma de experiência e erotismo. O que nos faz concluir que o novo homem não é exatamente um homem. Só quem exibe a nudez do próprio corpo pode perder seus principais atributos para aprender a dançar.
5,
Somente quem sabe maquiar-se pode dizer eu.
Emanuele Coccia
Emanuele Coccia, em A vida sensível, define a moda como uma espécie de sensível encarnado. “O que é de fato vestir-se senão incorporar um sensível exterior?”, pergunta Coccia. Viver, para o filósofo, em poucas palavras, significa “dar a ver”. Pensar a experiência do sensível, portanto, consiste em imaginar uma imagem que se encontra em um lugar deslocado, que se encontra na verdade em “outro lugar”, um lugar que não é mais próprio, como a imagem mesmo em um espelho, cindida, dobrada. “Ser imagem significa estar fora de si mesmo, ser estrangeiro ao próprio corpo e à própria alma”, escreve Coccia. Ou seja, ser imagem significa permanecer em estado absoluto de exílio, significa permanecer fora. E a moda, dessa maneira, será a chave de seu ensaio, pois, para que haja sensível, é necessário que haja intermediário, mediação.
Entre o corpo e a moda – ou entre matéria e imagem – há uma distância que pode ser chamada de exílio. Flávio não está pensando em algo muito diferente quando afirma que a maneira de se vestir é o que há mais influente sobre o homem porque “é aquilo que está mais perto de seu corpo” – ou ainda: “A moda se apresenta como aquilo que mais se aproxima ou mais se funde com o que há de fantástico na imaginação do homem.” Ora, estar perto do corpo, em todo caso, significa que se está em outro lugar que não no corpo. O esforço de toda reflexão que Flávio elabora sobre moda, à sua maneira, é uma tentativa também de responder as perguntas que abrem o ensaio de Coccia: “Qual é a maneira de ser da forma em exílio em relação ao próprio lugar natural? Como a nossa forma existe no espelho? Em suma, qual é o ser-no-mundo definido pelo espelho?” Flávio de Carvalho, assim como Coccia, em outras palavras, entende que “é sempre fora de si que algo se torna passível de experiência”.
“Existe um lugar onde as imagens nascem”, escreve Coccia, após se perguntar sobre a possibilidade de existência de uma “ontologia do sensível”. Pois Coccia conclui que é “produzindo sensível”, sobretudo – em poucas palavras, é através da imagem, da aparência, e não das faculdades cognitivas – que se produz efeito sobre a realidade. E o sensível, ao mesmo tempo, é “o absolutamente transmissível”, lugar da mediação, e também “o infinitamente apropriável”, já que o homem não imita mais a Deus, e sim a si próprio; e por isso, aliás, se exila. A crítica que Coccia parece fazer a Lacan diz respeito a isso; segundo sua leitura, Lacan vê perigo no fato de o sujeito ser “sugado pela imagem”, através da alienação e do fetiche imaginário, quando na verdade “a faculdade de reconhecer-se (ou de mal reconhecer-se) no sensível, de identificar-se com ele, de trocar-se por uma imagem, é ainda mais estranho e profundo, mais profano e cotidiano do que Lacan tentou isolar na assim chamada ‘fase do espelho’”. Daí não causa espanto que o lugar de chegada de seu ensaio seja não a literatura, tampouco a psicanálise, mas o impensado da moda. Antes de qualquer coisa, A vida sensível é uma espécie de ontologia da roupa.
Isso porque, se “a vida sensível é a capacidade de fazer as imagens viverem fora de si e, de algum modo, liberar-se delas, perdê-las sem receio” – e, por outra, se “a reprodução é a fertilidade própria da imagem” – então será a moda o lugar onde o sensível acontece. Na verdade, nos diz Coccia, a vida sensível se inicia pelo fato banal, mas decisivo, de que todo vivente aparece aos outros; antes de ir ao cinema, digamos, o homem se veste. É apenas nas últimas páginas de seu ensaio, mas de maneira definitiva, através de uma definição de vida, que o significante “moda” entra em cena: “Talvez chamemos de vida somente aquilo que pode relacionar-se consigo mesmo na forma de um costume, de uma moda: vivente é aquilo que não tem uma substância, mas que adere à própria substância apenas através de um costume, de uma moda”.
O corpo que a roupa cria – pois a moda é outro corpo, segundo corpo, exilado, que não coincide mais com o corpo anatômico, ainda segundo a perspectiva de Emanuele Coccia – não é feito de carne e nem de qualquer matéria, mas de aparência. “A vestimenta humana é um corte no interior do corpo, não entre o corpo e seu exterior, mas sim entre um corpo anatômico e outro protético e puramente virtual. Roupa e corpo anatômico são duas realidades de um mesmo corpo”, escreve. É por isso que a moda se apresenta com uma vida própria independente da consciência, da psicologia, pois ela é a pura mediação; e é por isso também que o homem não faz, com a moda, a experiência do aberto; ele está aberto.
Flávio de Carvalho, à sua maneira, já havia entendido que a moda não mostra a essência através da imagem, e sim que ela própria é um ente, uma pele, isto é, ela torna possível a experiência do sensível na superfície da própria imagem. Em seus ensaios sobre moda, torna-se evidente que em sua abordagem está em jogo uma espécie de vida própria da roupa; descolada da intenção, da consciência e do sentido, portanto. É possível imaginar as experiências de Flávio, depois, tanto seus textos quanto suas performances, principalmente elas, como tentativas de encontrar a imagem certa; ou seja, a imagem que, no interior do jogo da experiência, faça surgir o novo. Daí que me parece ser tão produtivo pensar a moda em Flávio de Carvalho tanto ao lado do texto de Coccia quanto da reflexão de Boris Groys sobre o novo. Seja como for, eu diria que, tanto para Flávio quanto para Coccia, os conceitos de experiência e de sensível – experiência e moda, portanto – estão ligados de maneira definitiva. Só há experiência, como queira, através do sensível; ou, em outra palavra, através do exílio.
6, EPÍLOGO
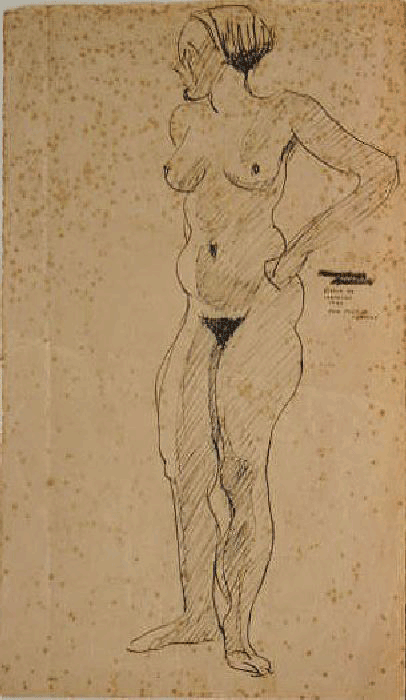
O homem em farrapos, como foi dito, através do paradigma da exibição das pernas, é uma espécie de linha de tensão entre o homem vestido e, afinal, o homem nu. Quando Flávio de Carvalho escreve sobre o Unissexo, ou seja, o nivelamento entre masculino e feminino, o autor enfatiza justamente a exibição das formas nuas femininas, além da apropriação do trajo do sexo oposto, como força criadora do novo. Flávio chega a sugerir uma relação entre a nudez e o comunismo: “O período do nu primitivo parece ser um período comunista: encontramos na alegria de viver da criança, que é um primitivo, muito do conteúdo psicológico do comunismo”. Enfim, é o contato, e não o isolamento, que interessa para a teoria de Flávio. Seja como for, a noção de homem nu, em toda sua obra, desde os desenhos até os retratos, traz inumeráveis possibilidades de leitura – basta lembrar que Flávio é um dos vanguardistas do século XX que mais pintou a nudez, como este Nu Feminino, de 1993; mas é em um texto de 1930, mais de vinte anos antes de seus ensaios sobre moda, que a noção de nudez aparece melhor elaborada.
Em “A Cidade do Homem Nu”, acompanhado de Freud e Nietzsche, sob a forma de manifesto, Flávio define com precisão, já nas primeiras linhas, o que é o homem nu: “homem do futuro, sem deus, sem propriedade e sem matrimônio”. E define também, na sequência, contra o quê o homem nu deve se posicionar: “O homem perseguido pelo ciclo cristão, embrutecido pela filosofia escolástica, exausto com 1500 anos de monotonia recalcada, aparece ao nosso século como uma máquina usada, repetindo tragicamente os mesmos movimentos ensinados por Aristóteles”. Da mesma maneira que o homem em farrapo é a antítese do papa, o homem nu se coloca “fora do peso das tradições seculares”, pois ele “precisa despir-se, apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e o pensamento”. Impossível aqui não recordar a definição de moda segundo Boris Groys: “la possibilite d’affirmer sa propre vie comme une valeur dans le temps historique et de se libérer du pouvoir du passe” [“a possibilidade de afirmar sua própria vida como um valor no tempo historico e de se liberar do poder do passado”].
A nudez, para Emanuele Coccia, não se apresenta como uma dicotomia em relação à roupa, e sim como outra face de uma mesma faculdade. É graças à nudez, nos diz o filósofo, que somos capazes de alienar nossa própria pele como um objeto exterior; e é graças também a ela que estamos condenados a trocar de pele, fazendo com que nenhuma roupa possa se transformar em natureza. Em outras palavras, a nudez é uma maneira de exílio e de experiência. “Estar nu significa ser capaz de alienar o próprio no impróprio e de assumir o impróprio como próprio”. Para Flávio de Carvalho, por sua vez, o homem nu é um homem que “apresenta sua alma para pesquisas”, e nessa definição é possível antever todo um programa que quer conciliar moda – sensível – e experiência. A moda será também uma forma de experiência. E o homem em farrapos, afinal, uma forma de vida.

|

