
A história do poder é a história da captura das formas de crítica e resistência a ele. Este bem poderia ser o mote de certa tradição intelectual marxista, que se cristaliza na chamada Escola de Frankfurt (por esse motivo, sempre acusada de pessimista), e na qual se inscreve Vladimir Safatle. Como sabemos, uma das características que marca a especificidade da guinada intelectual dos frankfurtianos é a aliança entre teoria social crítica e psicanálise (a ausência completa desta em Habermas é suficiente para sinalizar que ele
não é herdeiro desta tradição) - e, também aqui, com a presença decisiva de Lacan no rol analítico de Safatle, se pode notar a sua filiação a esta corrente. Este é um dos motivos pelos quais
a acusação feita por Evando Nascimento - a de ser um "amálgama" intelectual - em relação a
Cinismo e falência da crítica, que hoje discutiremos, ser falha: não leva em conta a centralidade que Adorno e Lacan possuem na análise de Safatle: Foucault e Deleuze, "estão, em larga medida, sendo criticados em pontos regionais e precisos", para usar os termos do próprio autor
em sua resposta à Evando Nascimento. A meu ver, a postura de Nascimento reforça uma oposição que esteriliza o pensamento brasileiro, a oposição entre "pós-estruturalistas" e os "uspianos marxistas" (prova disso são
os textos de encerramento do "debate", em que não se debate mais nada, pois a dicotomia fora traçada como premissa na resenha inicial) - e, a meu ver, a obra de Safatle deve, por isso, ser inserida neste contexto como um esforço de, partindo de uma teoria crítica frankfurtiana, dialogar criticamente com o "pós-estruturalismo", isto é, aproximar (no sentido de colocar em contato, o que não quer dizer fusionar) correntes que, no Brasil, costumam ficar separadas como água e vinho (citar um autor de uma delas aparece como filiação imediata). Há, porém, um ponto em que a resenha de Nascimento é certeira: "a impressão", que se tem ao ler o livro, de "que teria havido na história do globo um período de total e pleno direito, após o qual ocorreria o advento de sociedades anômicas, em que predomina a crise de legitimação". Talvez se Safatle tivesse atentado mais à periferia global (ele o faz, mas de passagem), pudesse ter visto que, aqui, nunca houve crise de legitimação, porque nunca houve legitimação da racionalidade social.
Mas, antes das críticas, vamos ao diagnóstico traçado por Safatle. A situação que ele descreve se assemelha ao que Paulo Arantes, em
Extinção (que
discutimos no Clube de Leituras anterior), chamou de "estado de sítio moral da inteligência globalitária". Porém, Safatle vai mais além e procura compreender a lógica desta "petrificação geral da linguagem" (para usar outra expressão de Arantes), na qual identifica o "cinismo": "a recorrência de casos de enunciação da verdade que anulam a força perlocucionária da própria enunciação
sem, contudo, transgredir os critérios normativos de enunciação e justificação" (p. 76). Não se trata de mera contradição performativa, como na hipocrisia, mas de um discurso que mantém a lei ao transgredi-la, mostrando como não é possível estabelecer um nexo seguro entre a lei e sua aplicação, isto é, para usar a terminologia de Safatle: mostrando como a
indexação não é um processo inequívoco, está longe de ser uma subsunção lógica. Se o cinismo pôde funcionar como instrumento de crítica, hoje ele teria sido capturado e internalizado pelo
status quo: "o cinismo é a continuação do princípio da identidade por outros meios" (p.60), ele mantém "a lei do valor ao mesmo tempo em que mina o valor da lei" (p. 102). Ou seja, não enfrentaríamos mais a "ideologia" enquanto "falsa consciência", mas sim enquanto "falsa consciência esclarecida", ou "ideologia reflexiva". Isto porque o capitalismo contemporâneo, como bem aponta Safatle a partir de uma indicação precisa de Adorno, é totalmente transparente. Aqui, a análise da configuração recente dos produtos da indústria cultural revela tudo: "Os [seus] conteúdos já são previamente ironizados
e é isso que lhes permite continuar circulando": "Personagens de contos de fadas que não mais se reconhecem e criticam seus próprios papéis, propagandas que zombam da linguagem publicitária, celebridades e representantes políticos que se auto-ironizam em programas televisivos", etc. Como está cada vez mais claro, há um paralelo entre a situação de exceção atual e o fascismo: assim, Safatle, fazendo uso mais uma vez de uma análise de Adorno, argumenta que, neste, "tudo era aparência posta como aparência e, fato de suma importância,
sabia-se disso" (p. 97). Poderíamos dizer, portanto, que
O Grande Ditador, de Chaplin, não é uma paródia a Hitler, mas o seu perfeito retrato - e daí um certo mal-estar entre algumas pessoas que assistem ao filme (e o gozo de muitas outras).
A ideologia, deste modo, não seria uma crença, mas "uma questão de repetição de rituais materiais", o que, sob o reino do cinismo, implica "uma inércia na modificação do agir (...) ainda maior, pois o sujeito se dessolidariza de seu próprio ato, que ganha a força do automatismo" (p. 106). Além do paralelo entre exceção contemporânea e fascismo, Safatle aponta para outra especificidade do capitalismo atual bastante visível: a centralidade do consumo em detrimento da produção. A partir desse dado, Safatle tenta mapear como isso acarretou (e foi acarretado por) uma mudança na "economia libidinal": a passagem de uma ética do trabalho e da poupança a uma "ética do direito ao gozo" - "a incitação e a administração do gozo se transformaram na verdadeira mola propulsora da economia libidinal" (p. 128). O resultado não seria tanto a "satisfação administrada", mas a "insatisfação administrada", pois há uma "desvinculação geral entre imperativo de gozo e conteúdos normativos privilegiados" (p. 132): o imperativo de gozo jamais é satisfeito, o "Goze!" é um significante vazio, jamais se identifica, senão parcialmente, com um objeto. Além disso, os produtos disponíveis à suposta satisfação já são de antemão ironizados (eles nem prometem mais a satisfação). Os objetos de consumo não disponibilizam só conteúdos determinados de certa formatação social (como uma crítica simplista insiste), mas "a pura forma da reconfiguração incessante que passa por e anula todo conteúdo determinado", pura forma essa possibilitada pela manutenção de um "único axioma intocável": "o processo de autovalorização do próprio capital. Axioma, e não código que determina o sentido dos fluxos que os processos de equivalência produzem" (p. 140). Até aqui, estou de acordo com o Safatle. Mas, a partir desse panorama, quero apontar algumas divergências:
1) Não estou inteiramente convencido de que a passagem do supereu repressor ao supereu que ordena o gozo implica necessariamente que o capitalismo contemporâneo não incuta mais culpa. Pelo contrário. Walter Benjamin, em "O capitalismo como religião", texto de 1921, identifica o capitalismo como a primeira religião sem dogma, no que converge com a análise de Safatle (no fato da ideologia não ser uma crença, mas repetição de rituais materiais), mas se afasta dela ao acrescentar que, além disso, o capitalismo, enquanto religião não produz a expiação, mas a culpa. Creio que a culpa seja a forma do capitalismo capturar a insatisfação em relação a ele (captura que Safatle também aponta, a partir de Guy Debord). Inserindo a insatisfação no domínio jurídico da culpa, que, como todo ato jurídico, pode ser compensado, transigido, julgado, o capitalismo se retroalimenta - basta ver o atual discurso da responsabilidade (também um termo jurídico) social, ambiental, do consumo responsável, etc. Porém, o capitalismo não expia a culpa, a produz. Daí que a retroalimentação se torne infinita. Ao exercermos o "consumo socialmente correto", tentamos expiar o inexpiável - e logo tentaremos a expiação em outra "forma de vida" oferecida como commodity.
2) A partir desta idéia benjaminiana de que o capitalismo é uma religião puramente ritual, ou seja, sem dogma, gostaria de apontar outro ponto que está ausente em
Cinismo ou falência da crítica. Não é propriamente uma falha de Safatle, já que ele não se propõe a investigá-lo, mas que poderia trazer mais elementos para a análise. Me refiro à passagem entre os dois regimes (aquele no qual se tentava legitimar as condutas e os discursos apelando a uma normatividade da racionalidade social, e o atual, em que esta é ironizada de antemão - ou, por outra, a passagem do supereu repressor ao supereu que ordena o gozo). Se Safatle explica muito bem tanto um quanto outro, não investiga a transição entre os dois regimes. Não estou falando aqui das mudanças infra-estruturais, mas do modo, do procedimento desta ruptura, desta descontinuidade. Isto poderia jogar luz no porquê, apesar do valor da lei ser minado, a lei do valor se manter, isto é, no porquê a "forma mercadoria" se sustentar. Acredito (mas por ora é só uma hipótese) que esta passagem se dá por um contínuo esvaziamento da função significante da linguagem, por um processo no qual todas as determinações referenciais entre significante e significado tivessem se "gastam". É como se quanto mais comunicação e informação, quanto mais linguagem houvesse, menos sentido se produziria. Ou seja, haveria uma íntima ligação entre a esfera pública (que nasce com a burguesia) e o esvaziamento dos significantes. No limite, todo significante é um significante vazio e indeterminado (como o imperativo "Goze!"). O sentido da Babel é esse: não a produção de línguas intraduzíveis entre si, mas a exposição do hiato, inerente à linguagem, entre significante e significado. As apostas na "ação comunicativa" ou mesmo na bizarra traduzibilidade eletrônica de conceitos, não ignoram esse dado; pelo contrário, intensificam o hiato: o que fazem é tratar a linguagem como pura forma, cujo conteúdo pode ser substituído (traduzido) ou valorado por uma racionalidade que se tornou procidemental (o melhor argumento). Vale quanto pesa: isto é, a linguagem se converteu em dinheiro (isto é, em uma pura forma destituída de valor, mas que torna todos os conteúdos equivalentes, isto é, cambiáveis). Isto explicaria porque a indústria cultural, a sociedade do espetáculo e do consumo são hoje eixos do capitalismo contemporâneo: este replica o hiato específico à linguagem (entre significante e significado), racionalizando-o (capturando-o) como instaurador de equivalências cambiáveis;
3) Antes de encerrar, mais umas linhas sobre a "forma mercadoria" e sobre este hiato inerente à linguagem. O diagnóstico, traçado por Safatle, de que o modelo atual de crítica faliu se dá no contexto da discussão sobre a indexação da lei: o cinismo dominante revelaria que a denúncia da inadequação entre ato e lei não serviria mais à crítica, pois o poder a internalizou: "
Talvez estejamos tão acostumados a compreender racionalidade como normatividade que nos espantamos com situações nas quais o acordo intersubjetivo em relação a critérios e valores não nos leve a um acordo em relação aos modos de aplicá-los ou, ao menos, a maneiras de retirar a ambigüidade de sua aplicação" (p. 79). Porém, há toda uma linhagem "crítica", para a qual a reflexão sobre a linguagem foi essencial (pós-estruturalismo, feminismo, etc.), que jamais achou ser tarefa sua essa denúncia da inadequação entre ato e lei (antes, a inadequação lhe serve de premissa). Se alguma crítica faliu, foi uma crítica marxista embebida por demais em certo kantismo. Por isso, Safatle não tem como, depois de traçado o diagnóstico, analisar soluções propostas justamente por esta "outra" linhagem crítica - é o que faz no capítulo dedicado à paródia. Se ele está correto em dizer que a paródia reforça o original - algo que Mário de Andrade, ele mesmo praticante inveterado da paródia, enunciava ao dizer que é o falso que valoriza o autêntico -, não acredito que ele o esteja quando aponta as limitações, por exemplo, da idéia de "profanação", do Giorgio Agamben, argumentando que o capitalismo a capturou. A profanação, segundo Agamben, é a restituição, daquilo que estava separado, numa esfera sacralizada, ao uso comum dos homens. A meu ver, o melhor exemplo de profanação foi descrito por Guy Debord,
em sua análise da Revolta da população negra no bairro de Watts, em 1965: "A passagem do consumo à
consumação realizou-se sob as chamas de Watts. As grandes geladeiras roubadas pelas pessoas que não possuíam eletricidade, ou que tinham a corrente cortada, é a melhor imagem da mentira da abundância tornada verdade em ação. A produção mercantil, assim que deixa de ser comprada, transforma-se em criticável e modificável em todas as suas formas particulares. Apenas quando paga com dinheiro, qual símbolo de um grau na sobrevivência, ela torna-se respeitada como um fetiche admirável". Não se tratava de expor a inadequação entre lei e ato, mas de mostrar como tal inadequação, quando não mediada pela forma dinheiro, ameaçava esta. Do mesmo modo, a crítica ao cinismo passa por encarar o hiato entre significante e significado como campo da ação humana, isto é, livre da mediação de uma linguagem convertida em pura forma, em dinheiro, da mediação entre equivalentes cambiáveis. Quando a linguagem se torna dinheiro, talvez a solução seja tornar o dinheiro linguagem.
Bem, para o pontapé inicial do debate, já falei demais. Abordei apenas alguns pontos do livro, mas tenho certeza que os companheiros do Clube irão esmiuçar todos os demais.



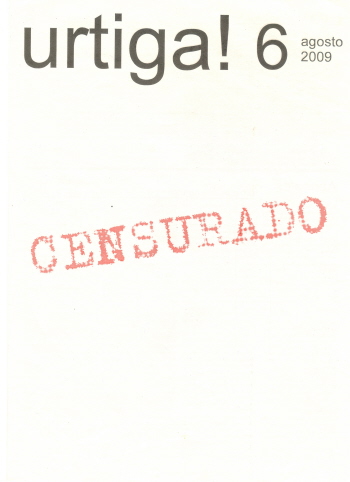



Comentários recentes